Tempo quente na Rua Sete – Por Paulo Maia
 Paulo Maia
Paulo Maia
O DIÁRIO foi meu primeiro emprego. Comecei em 27 de setembro de 1957, com 14 anos, como contínuo na Rua Sete de Setembro, onde o jornal nasceu e viveu até perto de morrer. Trabalhei até junho de 58 como contínuo — naquela época fazia tudo: varria a redação, limpava a privada, ia pra rua fazer cobrança, todos os trabalhos de office-boy.
Em junho, o Selmir Miranda, que era revisor, entrou de férias e eu consegui com "seu" Lisboa, que era gerente, para substituí-lo à noite. Eu já tinha a 4ª série ginasial, que naquela época representava uma boa base, conhecia alguma coisa de português e trabalhei aquele mês no lugar de Selmir, substituindo-o nas férias. Acontece que ele arrumou uma encrenca e teve que sair de Vitória por um tempo.
Eu estava ali e fui ficando. Fiquei como revisor, trabalhando à noite escondido da fiscalização do Ministério do Trabalho, devidamente orientado: se chegar a fiscalização aí, você diz que é parente de alguém e que veio trazer a janta.
Fui convivendo com a turma de gráficos de antigamente, que eram pessoas altamente politizadas, alguns até verdadeiros intelectuais. Com eles, fui pegando a experiência necessária dentro da profissão e depois, por interesse pessoal também, comecei a freqüentar a redação.
Naquela época, o noticiário nacional e internacional era coletado através de radiotelegrafia. O Walter Silva pegava todo o material, que vinha como tele-grama. Por isso, hoje, a gente que é veterano, tem mania de falar: "Ô fulano, o telegrama já chegou?" Era o telex de antigamente. Ele pegava aquilo em linguagem telegráfica, sem os pronomes nem os artigos.
Eu pegava aqueles telegramas e dava forma de matéria jornalística, botando os artigos, os pronomes, os acentos e mudando um pouquinho a redação, de tal forma que fui treinando e, de repente, era revisor e redator. Depois fui repórter, secretário, editor, fui o diabo dentro dO DIÁRIO. Na primeira fase, fiquei nove anos — de 57 até novembro de 66. Depois passei por lá em 71, em 73 e finalmente em 75.
O DIÁRIO passou por várias épocas interessantes. Depois de ser oposição a Chiquinho por alguns meses, virou governista - no primeiro Governo do Chiquinho. Quando o Chiquinho saiu, o Carlos Lindenberg entrou e O DIÁRIO voltou a ser oposicionista.
O jornal subiu muito nesses quatro anos de oposição. Quando acabou o Governo, o Chiquinho conseguiu se eleger de novo e o jornal virou Governo de novo. Aí perdeu um pouco aquele charme de oposição que tanto atrai os leitores.
Depois disso, ele foi parar na mão de dois publicitários - Fernando Jakes, o Jakaré, e José Carlos Monjardim Cavalcanti, o Cacau - e do empresário Edgard dos Anjos, quando se iniciou uma nova fase.
O DIÁRIO fez uma inovação gráfica no caderno chamado Tablóide Social, juntando coluna social e algumas crônicas. O autor daquela inovação gráfica foi Marien Calixte. Era um negócio meio audacioso para aquele tempo: colocar apenas as palavras Tablóide Social em corpo 10 no pé daquela primeira página toda em branco. Eu me lembro até hoje da cara que o velho Lisboa - aquele gerentão antigo - fazia quando via de manhã o Caderno Dois com aquela página branca escrita Tablóide Social em corpo 10. Ele ficava na maior bronca: "Este cara pensa que eu tiro dinheiro de onde pra botar neste jornal? Como é que se joga espaço fora desse jeito?"
Aquilo era reclamação o tempo todo, mas era uma coisa bonita pegar uma página inteira e descer a matéria na diagonal. Visualmente era uma beleza, mas o gerente virava bicho, porque para ele era espaço que estava se jogando fora. O espaço, na visão dele, era para ser faturado.
No período da Revolução, havia uma turma de colaboradores de primeira: o Manoel Lobato, escritor mineiro que era dono de farmácia e de um texto maravilhoso; Wilson Borges Miguel, que assinava Wilson Maranguape, cronista de mão cheia; o Setembrino Pelissari, que escrevia sobre política; Plínio Marchini, que virou diretor do jornal, outro tremendo articulista; depois o Pedro Maia. O jornal sempre teve figurões, medalhões, o que, de alguma forma, era o charme.
O DIÁRIO sempre foi uma escola. Teve um incremento especial com a equipe que saiu dA Tribuna, levando para lá inovações na paginação, na diagramação e até no salário. Foi na época em que o velho Antenor Novaes veio para Vitória. Com a morte do seu Antenor, essa equipe - da qual eu fazia parte - foi afastada. Houve uma mudança na redação, as pessoas saíram e foram para O DIÁRIO, que, a exemplo do que já fazia A Tribuna, passou a admitir estagiários. Naquela época não tinha essa frescura de dizer que a contratação de estagiários era golpe do patrão para economizar e que isso prejudicava os profissionais. Isso é conversa de incompetente. Muitas vezes o estagiário era contratado até sem o patrão saber.
Daí, O DIÁRIO partiu para essa linha de colocar estagiário: estudantes de direito, medicina... O cara queria trabalhar em jornal, entrava na redação e fazia estágio. A gente mesmo fazia a seleção e era claro com o sujeito quando sentia que ele não tinha vocação para a coisa. Além da vocação, o pré-requisito era ter o secundário ou mesmo o primário completo. O candidato a estágio recebia uma pauta e ia pra rua. Se ele se saísse bem, recebia outra e ia ficando, até ser contratado. Nós mandávamos o cara subir o morro, ou ir no DML (Departamento Médico Legal) identificar um presunto: alguns chegavam lá correndo, entregavam a pauta e não apareciam mais na redação.
Naquela época não tinha carro, não tinha fotógrafo, você ia para a rua trabalhar e, se acontecesse alguma coisa, você tinha que ir atrás de um lambe-lambe, convencer o cara a fazer a foto. Aí a empresa não pagava e o cara ficava atrás de você o tempo todo para receber. Quer dizer: era muita dificuldade, era tudo muito diferente e talvez por isso os jornais eram todos iguais, não existia um melhor que o outro. Não tinha essa conversa de "eu tenho isso e você não". Ninguém tinha nada, só tinha o linotipo e a impressora.
Até 72, a briga era entre O DIÁRIO e A Tribuna, que funcionava na Esplanada Capixaba e fechou naquele ano, quando estava construindo uma outra sede na Ilha de Santa Maria. Ficou O DIÁRIO. A Gazeta era um jornal caretão, conservador, feito nas coxas, que a gente não considerava nas discussões sobre jornalismo: a gente dava matéria nacional de manchete, quatro dias depois A Gazeta colocava aquilo na primeira página, era uma esculhambação danada.
Com o fechamento dA Tribuna, ficou O DIÁRIO sozinho até 73, quando A Tribuna reabriu — reabriu em off-set, novas instalações e tudo o mais. Nesse ínterim, A Gazeta inaugurou seu novo prédio, comprou off-set, levou o Cláudio Bueno Rocha, que estava nO DIÁRIO. Cláudio deu uma arrumada nA Gazeta, que foi melhorando.... depois chegou o Marien e fez outra coisa. O DIÁRIO chegou a pegar fogo quando estava na mão de Edgard dos Anjos, que foi, diga-se de passagem, um dos melhores gestores do jornal, inclusive em termos de jornalismo. Eu costumo dizer que a imprensa capixaba deve primeiro a Antenor Novaes e depois a Edgard dos Anjos. Depois que o velho Antenor morreu, Edgard manteve acesa a chama da imprensa capixaba nO DIÁRIO: pagando melhor, correndo atrás, dando condição para se trabalhar.
Enquanto ele teve fôlego, agüentou, depois, entregou para não sei quem, que passou para outro e outro, até que O DIÁRIO sumiu. Lá pelos idos de 74, eu era secretário do jornal na Rua Sete após ter saído e voltado. Foi então que um general - vindo Rio para a Secretaria de Segurança - resolveu instituir o esquema de blitz. Fez uma blitz enorme no centro da cidade, causou o maior rebu. Eu escrevi um artigo na primeira página, de página inteira. Alguns dias depois o homem caiu. Eu arrumei umas encrenquinhas também, mas o homem caiu.
O DIÁRIO, embora já não fosse um grande jornal, tinha pedigree, raça, nome, e isso, de alguma forma, pesava na balança contra os outros dois jornais. Não era um jornal de oposição, mas era de vanguarda. E a gente partia para a audácia de vez em quando, denunciava um desaparecimento, aí os sujeitos iam lá de jipe, havia aquela censura mais brava, mas a gente sempre fazia alguma coisa. A gente participava na medida do possível, não podia abrir muito, mas de qualquer forma a gente atuava, guardando o limite, calculando os riscos.
O DIÁRIO se manteve ainda até o final da década de 70. Depois começou a bater na mão de alguns aventureiros, que acabaram com o jornal. Eles conseguiram sumir com três linotipos e uma impressora.
No princípio, o jornal era perfeitamente enquadrado, até porque não havia militância política. Na imprensa, a militância sempre foi muito em nível regional. A militância ideológica só veio a aparecer em 68.
A juventude de hoje não tem noção do que era a censura. Todos os jornais tinham problemas. Por exemplo: O DIÁRIO era um jornal da Coligação Democrática, uma frente de partidos que ajudaram a eleger o governador da época. Se o namorado da empregada de um vereador daqueles partidos fosse em cana, o vereador ligava para o jornal e a notícia não saía.
Antigamente o jornal era tão censurado que a censura era feita pelo diretor do jornal, pelo proprietário, pela revisão, pelo chefe da oficina e até pelo linotipista. Era um negócio de louco: cada um censurava mais que o outro. O chefe da oficina, um gráfico, tinha esse direito. Se eles pegassem uma notícia que tivesse uma ameaça de um palavrão, não saía. Isso era um troço rotineiro. A censura era o diabo. As pessoas falam da censura do regime militar, que era uma censura apenas oficial. Mas o repórter era censurado por um linotipista, que pegava o original, riscava com o lápis, fazia sinal pra revisão de que aquilo tava cortado. A revisão também censurava. O revisor ia lendo e... "Ah não! Isso aqui tá cheirando a sacanagem". E cortava.
Todos os jornais funcionavam assim. As pessoas que falam sobre a censura feita pelos militares não sabem como era a situação antes. Pelo menos, na censura militar havia lógica: era um Governo, uma ditadura, que só permitia publicar o que era bom para manter aquela situação.
Mas antes da ditadura, em plena democracia, no pleno exercício do pluripartidarismo, quando nem se sonhava com Revolução, em 1959, a censura era braba no jornal. NO DIÁRIO era proibido escrever o nome de Carlos Lindenberg em letra maiúscula, só em letra minúscula. A gente esquecia, porque afinal de contas desde o útero se sabe que nome próprio se grafa em letra maiúscula. Daí chegava alguém e repreendia: "Já não falei que é em letra minúscula?"
A gente reclamava mas não adiantava.
Tem muita gente brilhante que surgiu não só nO DIÁRIO como nA Tribuna, e que depois mudou de jornal ou foi embora: o Casado (José Casado, hoje nO Estado de São Paulo); Jorge Luís de Souza e Cláudio Lachini, ambos na Gazeta Mercantil; o Paulo Torre; Amylton de Almeida, muita gente.
Antes de Antenor Novaes os jornais daqui não eram diagramados, eram montados em cima de uma página, e quem montava era o gráfico. Foi Antenor que trouxe o Vinícius Seixas, o Merival, e mais tarde o Cláudio Bueno Rocha, que não foi trazido por Antenor mas sim em outra circunstância. Foram eles que pela primeira vez no Espírito Santo ensinaram a diagramar jornal na redação, calculando o tamanho das matérias e fazendo título com medida certa. No meu caso, eu tinha muita disposição e algum conhecimento do assunto, mas não sabia sequer que existia a função de secretário gráfico, coisa que eu como revisor fazia até sem saber. Até então não se fazia isso. A gente ia escrevendo, escrevendo até dar certo, e lá embaixo o gráfico, de acordo com o título, mudava o tamanho do corpo. Se ficava muito grande ele mudava o tamanho, ou então usava um corpo maior.
Até essa época ninguém na redação marcava matéria em duas colunas, três colunas, o que era considerado uma função do gráfico.
Os três jornais pertenciam a grupos políticos: O DIÁRIO, à Coligação Democrática (UDN. PPR PRP); A Gazeta, ao PSD: e A Tribuna era do partido do Adhemar de Barros. Então, a tônica dos jornais era política, implementada com esportes e polícia. A cobertura dos problemas da cidade era mínima: a Apae queria fazer não sei o que, levava um "release" no jornal e a gente publicava: ou então a Sunab ia aumentar o preço do pão, alguém ia lá no jornal e reclamava, e a gente fazia aquela matéria nas coxas. Não mais do que 10 ou 12 pessoas trabalhavam no jornal.
O DIÁRIO foi o primeiro a empregar fotógrafo. Em 58 trabalhou nO DIÁRIO um lambe-lambe chamado Valdemir Louzada, que montou seu laboratório numa sala ao lado da redação e fazia fotos para o jornal. Acabou não ficando porque quase nunca via a cor do pagamento. O DIÁRIO só foi ter fotógrafo novamente na época de Edgard dos Anjos, quando foram pra lá o Rogério Medeiros e o excelente Paulo Makoto.
Os jornais eram basicamente de texto. As fotos eram feitas com clichês — uma gravura sobre uma chapa de zinco, colada sobre um suporte de madeira, na altura necessária para a impressão. Cada editor tinha direito a gastar um clichê por semana. Os jornais tinham os arquivos de clichê. Havia clichê que entrava na página centenas de vezes por ano.
- Tem uma notícia de esporte. Traz aquela foto do Eleitas Solich, que era técnico do Flamengo.
- Mas hoje em dia ele é técnico de um time do Uruguai.
- Não tem importância.
E saía na legenda: "O Flamengo, que já teve o Eleitas Solich como técnico, ganhou de tanto..." Era assim que a coisa funcionava. Às vezes o sujeito tinha barba há vários anos, mas aparecia no jornal com aquela cara de recém-saído do Exército. Quando tinha um grande caso, o diretor liberava mais de um clichê por semana para o editor. Hoje eu vejo o recurso que os jornais têm com a fotografia e não sabem usar, não sabem explorar o recurso da imagem. Eu fico doente, porque naquela época a gente chegava a ser ameaçado de demissão por conversar com o cara da clicheria para ele fazer um clichê por fora, e quando ele ia cobrar do jornal o diretor dizia: "Mas eu não autorizei".
Quando Carlos Lindenberg era governador, a ordem lá na redação era esculhambar com ele. Teve uma hora que ele não agüentou mais e mandou empastelar o jornal. Só que alguém lá de dentro do Palácio, que não devia ser do PSD, ligou para O DIÁRIO e avisou que os jagunços estavam a caminho.
Trancamos o jornal e pegamos nossas armas. Naquela época jornalista precisava ter arma, porque o pau comia e não tinha ninguém para nos defender. Você podia sentar o pau em quem quisesse, desde que se garantisse. A polícia era uma desgraça: só tinha pistoleiro: e os jornalistas tinham que fazer sua própria segurança.
Começou a aparecer revólver, carabina, espingarda, o diabo. Ficamos tocaiados esperando os caras chegarem. Num determinado momento, chegou um Marshall - um carrão americano enorme que parecia uma nave espacial, todo aerodinâmico, muito bonito - e subiu a rua. Atrás veio um Buick, e foram lá em cima da Rua Sete, manobraram e pararam em frente ao jornal.
Tinha uns caras de chapéu, um esquemão mesmo. Aí os caras pararam, um deles meteu o braço pra fora pra abrir a porta, e alguém da redação gritou: "Não desce que morre". Até hoje não sei quem gritou. Só sei que os carros desceram aquele morro numa velocidade que quase bateram num bonde lá embaixo.
Aquilo foi comemorado como uma vitória num campo de batalha. Da forma que a gente fazia jornal, tinha plena consciência dos riscos — cansei de ver nego botando revólver na minha cara. Polícia no Governo Carlos Lindenberg era praga. O jogo era duro mesmo.
Me lembro de uma história curiosa com um paginador chamado Dequinha - uma figura folclórica - numa certa noite em que eu e Marien estávamos fazendo o Tablóide Social. Marien começava a fechar o Tablóide na sexta-feira à noite e eu, que era revisor, ficava para dar um apoio. Pedimos ao Dequinha para ir lá no Carioca, na Praça Costa Pereira, comprar um sanduíche e uma garrafa de cachaça Cariacica. Dequinha desceu e sumiu. Duas, 3, 4 horas da manhã, e nada do cara voltar.
Na tarde de sábado alguém ligou lá pro jornal: "Tem um cara dO DIÁRIO preso, agora é que ele tá acordando". Eu e Marien fomos lá. Na delegacia, o camarada nos contou que Dequinha foi no bar, tomou todas e voltou. Quando passou na porta da Chefatura de Polícia, que era Rua Graciano Neves — ele ia para O DIÁRIO, não tinha nada que passar pela Graciano Neves —, entrou, e no primeiro que ele encontrou foi dando esporro porque a delegacia estava abandonada...
A gente comia gato e Dequinha era o especialista na preparação desse prato. Na sexta-feira à noite, a gente atraía os gatos da vizinhança com pedaços de carne e acertava a cabeça deles com o breque da impressora, um cano de ferro bem grosso. Depois, íamos para o mercado da Vila Rubim tomar cachaça. Chegava do mercado às 6 horas e botava o gato no fogo, dormia até umas 10 horas. Sábado era o dia em que saía o vale, ninguém ia pra casa, ia pra rua, bebia e voltava pro jornal, de onde a gente só saía com o dinheiro.
Toda tarde de sábado a gente ficava por ali: enquanto preparava o jornal de domingo, comia gato, jogava 21. Num dia, o governador, que era o dono do jornal, chegou lá na hora de servir. A gente colocava uma toalha branca, feita com papel jornal. Chegou ele, Setembrino, aquela turma de puxa-sacos. Ele chegou perto da mesa e perguntou: "O que é isso?" O Setembrino falou pra ele que era um gato. "O pessoal daqui come gato?" Olhou e disse: "Eu também quero comer".
Preparamos pra ele uma cuiazinha — que era feita com papel jornal mesmo — com pirão e um pedaço de gato. Ele comeu ali com aquela cara de satisfação. Quando ia saindo, depois de ter tomado um copo de vinho, falou para o Setembrino: "Eles pensam que me enganam. Vê se isso é gato..." Ele comeu achando que a gente tava brincando. "O senhor acha que não é gato? Pois olha aqui". Na porta do jornal tinha um poste de trilho que ficou lá pela metade, onde Dequinha amarrava a cabeça do gato no barbante e pendurava.
O negócio do gato terminou por causa da mãe do Katuya Saad. Ela morava em frente e criava uma gata angorá que parecia de anúncio de lã. Pois numa fatídica madrugada, comeram a gata da turca e o Dequinha ainda pendurou a cabeça no poste. De manhã, sai a mulher: "Xaninho, xaninho". Quando ela chegou no portão e viu a cabeça da gata pendurada, desmaiou. Deu polícia, o diabo. Aí, o velho Lisboa proibiu: "A partir de hoje não se come mais gato".
O velho Lisboa, um homem de 74 anos, esporrento até a alma, chegava no jornal todo dia às 4 horas da manhã, fazia expedição, botava o jornal na rua. Batia os endereços nos jornais de assinantes a máquina, um por um.
Teve uma época em que O DIÁRIO estava no roteiro de visita da Miss Brasil. em 1959 ou 60, e a redação era uma esculhambação, Jackson Lima, que veio a ser editor dA Gazeta, Antônio Barcelos, secretário do jornal, e Mário Monjardim, que foi para São Paulo, resolveram pintar o jornal à noite por causa da visita da miss. Foram consumidas duas latas de tinta e umas dez garrafas de cachaça. Tomaram um porre tão violento que lambuzaram tudo, vomitaram a redação toda. Quando o Lisboa chegou para abrir o jornal e viu aquela imundície no corredor, desgraçou a dar esporro.
Mais ou menos às três horas da tarde, um cara da prefeitura foi à redação para avisar que a Miss Brasil não podia ir ao jornal por causa de um atraso do avião.
Fonte: O Diário da Rua Sete – 40 versões de uma paixão, 1ª edição, Vitória – 1998.
Projeto, coordenação e edição: Antonio de Padua Gurgel
Autor: Paulo Maia
Compilação: Walter de Aguiar Filho, março/2018


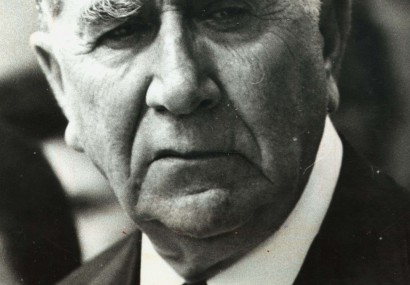

Plinio Marchini. Escritor e publicista. Dirigiu vários jornais no Estado, estando atualmente à frente do matutino “O Diário”
Ver Artigo2) “Correio de Vitória”. Editado pela Tipografia Capitaniense. Primeiro número em 17-1-1840. Proprietário e Redator Pedro Antônio de Azevedo. Era bissemanal
Ver ArtigoVelho O DIÁRIO de jornalismo político. Aqui construímos nossa glória de papelão
Ver ArtigoUm homem que ajudou os amigos e deles nada cobrou em troca, não pediu retribuição, quando é este o ato mais comum nas relações humanas
Ver ArtigoSeria bom que um grupo de estudantes do curso de Comunicação da UFES se dispusesse a levantar e a contar a história de O Diário, sem esquecer o lado folclórico
Ver Artigo