O Fim - Por Maria Amélia Dalvi
 Rua Sete, anos 1970 - Foto: Antonio Carlos Gemada Sessa Netto - Fonte: Memória Capixaba
Rua Sete, anos 1970 - Foto: Antonio Carlos Gemada Sessa Netto - Fonte: Memória Capixaba
I
A imagem mais recorrente quando eu pensava nele era: nós dois prendendo as bicicletas com correntes nas calçadas da rua Sete, para, em seguida, dividirmos, felizes, o generoso café da manhã, servido logo ali, na confeitaria da esquina. Leite, chocolate, mamão, croissants.
Esse tempo acabou. Acabou como acabam as águas de março, as acerolas no pé, a paciência das mães. Acabou como tudo tem que acabar mesmo, seja chuva, seja vida, seja só projeto. Acabou como acaba um xampu — mesmo que você dilua o restinho num pouco de água do chuveiro. Acabou como tem que acabar qualquer iniciativa de ser feliz, de ter dó, de saber como se vive de esperança ainda hoje.
Não me dói. Não, dói um pouco, sim, acordar de manhã pensando em geleia de pêssego, em pão preto quente. Dói uma dor boa, de ausência, de saudade, de lembrança nítida que uma hora será só fiapo, que já é só fiapo de passado. Dói como dói usar uma estampa florida, numa manhã ensolarada de um inverno frio — e às vezes há um inverno frio, mesmo em Vitória, cidade-sol.
Dói como dói uma vaca pastando na beira da estrada, um cachorro mancando, um pato afogado. Dói como dói ouvir um sapo coaxando no seu banheiro, enquanto você se recupera do susto. Dói como dói ouvir Cazuza enquanto o motorista atrás de você, em frente ao Penedo, gesticula ao telefone e o guarda anota a placa de quem parou sobre a travessia de pedestre. Dói como um sorvete que derrete antes mesmo que você tenha dado a primeira lambida.
II
Antes fosse mais fácil fazer de uma vez o inevitável. Dirijo para casa querendo que o caminho seja mais longo, a estrada mais sinuosa, que os semáforos cronometrados pelos competentes agentes sejam gagos — mas tudo conspira a seu favor e o trânsito fluente nem se dá o trabalho de ser lento (antes, serpenteia, entre arranques e breques, pontuado por um buraco e outro, em meio às faixas semiapagadas a dividir as pistas).
As luzes da cidade, mesmo amarelas de mercúrio, se acendem pouco a pouco. Mas, antes, a essa hora, as crianças tivessem permanecido trancafiadas nas escolas e não espojassem sua alegria inconsequente nos carrinhos de pipoca e picolé e nem na frente dos portões enferrujados das casas que têm cachorros e não gargalhassem diante do pobre cão lazarento com pedras nas mãos e gritos no céu das bocas fartamente cariadas.
Antes, baby, caísse uma chuva fina, antes carros enguiçados, carros de polícia, sirenes, bombeiros, ambulâncias. Antes as caras das domésticas tristes nas janelas dos ônibus, antes os ajudantes de pedreiro já meio altos resmungando inaudíveis (e trágicos) nas portas dos botecos que se postam nos pontos estratégicos para os quais convergem todas as calçadas.
Antes as mães jovens permanecessem com as barrigas flácidas encostadas nos balcões, e entre as barrigas e os balcões suas blusas de lycra ordinária. Antes as meninas de 11, 12 anos arrastando sandálias de salto plástico pelo asfalto enquanto conferem os olhares ora gulosos, ora indiferentes dos taxistas que esperam um chamado não se sabe de onde, mas que não vem.
Antes a força muda e besta dos olhos dos bebês de colo de cara bovina e o catarro ressecado dos narizes das crianças de três anos que saem dos hospitais com febre, e sem dinheiro para o Tylenol, para o Berotec genérico de cada dia.
Antes os velhos e encurvados e arrependidos que jogam dominó nas praças ou que vendem churrasquinhos suspeitos nos nódulos (mais suspeitos ainda) superpovoados das aglomerações urbanas. Antes os frentistas que contam as horas minuto a minuto, ou litro a litro; antes as enfermeiras feias e igualmente ordinárias — que terão câncer um dia e morrerão pouco tempo depois, sem o desfrute das benesses de um plano de saúde.
Antes a geografia macabra (e punk-decadente) dos terrenos baldios, dos prédios abandonados e dos pontos comerciais esquecidos. Antes o mijo no poste. Antes, honey, o fedor enjoativo da fritura de pastéis de queijo insalubres e a maionese com salmonela dos terminais rodoviários.
Antes o pardal que perde o pulo e morre atropelado por um lotação (ante o gritinho das moças histéricas e mui piedosas) ao gato que dorme indiferente às 17 e 45 na janela do centro de uma capital.
III
Antes, enfim, você aqui, que uma imagem desbotada, uma aquarela tosca, de uma história — bonita e triste — que nunca houve.
Fonte: Escritos de Vitória nº 6 - Parque Moscoso, PMV e Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo, 1994
Autora do texto: Maria Amélia Dalvi
Maria Amélia Dalvi nasceu há 24 anos, em Vila Velha, mas vive atualmente do lado de cá da ponte, em Vitória. É graduada em Letras, pela Ufes, onde também concluiu o mestrado, com pesquisa sobre a poesia de Drummond. É revisora e professora das redes pública e particular de ensino.
Compilação: Walter de Aguiar Filho, outubro/2019


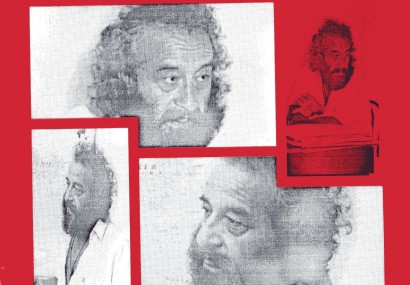

O ano que passou, o ano que está chegando ao seu fim já não desperta mais interesse; ele é água passada e água passada não toca moinho, lá diz o ditado
Ver ArtigoPapai Noel só me trouxe avisos bancários anunciando próximos vencimentos e o meu Dever está maior do que o meu Haver
Ver Artigo4) Areobaldo Lelis Horta. Médico, jornalista e historiador. Escreveu: “Vitória de meu tempo” (Crônicas históricas). 1951
Ver ArtigoEstava programado um jogo de futebol, no campo do Fluminense, entre as seleções dos Cariocas e a dos Capixabas
Ver ArtigoLogo, nele pode existir povo, cidade e tudo o que haja mister para a realização do sonho do artista
Ver Artigo