Os filhos do Britz - Por Luiz Carlos Almeida Lima
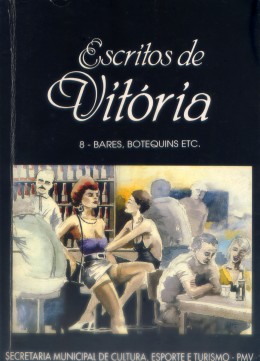 Ilustração de Capa: Wagner Veiga (Aquarela 50x40cm). Acervo do Artista
Ilustração de Capa: Wagner Veiga (Aquarela 50x40cm). Acervo do Artista
Je suis homme voilé por moi même;
Dieu seul sait mon vrai nom (Eu sou
um homem oculto por mim mesmo; só
Deus sabe o meu verdadeiro nome).
Vitor Hugo
... Um bar se faz com reticências. E as afirmações categóricas e as verdades absolutas se desvanecem na névoa tão logo se vislumbra a luz da manhã.
As reticências dizem mais. Ou deixam que se diga mais, que se deduza mais, que se surpreenda. Nas entrelinhas se constrói um bar. Os olhares que se cruzam são sua essência. Mesmo que seja o olhar de um homem com seu espelho, que reflita um copo, uma mesa ou, melhor dos casos, uma mulher.
Um bar se impõe. Para alguns como troca, contato, para os outros como afirmação da própria solidão: não há melhor lugar para se ficar sozinho, ou para exercitar a solidão.
Alguns desses homens são artistas e, em particular, alguns são escritores. Esses últimos são oriundos dos dinossauros, espécie que se confunde com o surgimento da terra. Há ainda quem garanta que sejam a encarnação dos próprios dinossauros. Afinal, o que fazem sobre a face da terra?
Se a boca não responde a essa pergunta (triste omissão), ela adquire outra função: a arte do paladar. Lábios, língua, céu da boca vêm, secularmente, sendo cada vez mais aguçados pelo ato de beber. E, ao contrário dos dinossauros, água não é líquido mais requisitado por esses espécimes. Água se bebe em casa.
E, já que ninguém comprovou a necessidade desses elementos na modernidade (os dinossauros ocupam muito espaço), alguns vêm se dedicando, com muito empenho, à arte de beber. Vivendo ou escrevendo, não é a questão. Uma parte, talvez a maioria, faz os dois. Outros se satisfazem em ter seus personagens vivenciando-a. O certo é que, desde que o mundo é mundo, a bebida está no imaginário (ou no fígado) desses seres.
Do absinto à vodca, do uísque ao vinho, do martini à cachaça, do licor à cerveja, os escritores não pouparam garrafas. Listar os personagens que exerceram tal arte é praticamente impossível tal a quantidade. É, primordialmente, com qualidade. A bebida sempre esteve associada com alegria de viver, amor, sexo, homens e mulheres.
Esse pode ser o lema de Quincas Berro D’água ou de Bentinho de Dona Flor e seus dois maridos, ou de incontáveis personagens de Jorge Amado. Da alegria ao “copo de cólera” (Raduan Nassar), à tristeza, melancolia, tudo é motivo para realizar a experiência etílica.
As mulheres marcam presença, Clarice Lispector, em Laços de Família, escreveu o conto “Devaneio e Embriaguez numa Rapariga” é ate mesmo o atual prêmio Nobel de Literatura, Kenzaburo Oe (pouco conhecido no Brasil) tem no seu livro O Grito Silencioso uma alcoólatra como um de seus personagens principais. A perda de um filho é amparada por litros de uísque.
Prazer, euforia, desespero são reações que permeiam o caminho dos personagens. Em comum com os escritores pode haver tudo ou nada. A sublimação pode ficar só no papel e a convivência com os bares e as bebidas pode ser mais fácil, mais pacífica. É o caso do cineasta Luis Buñuel que é autor (junto com Jean– Claude Carrière) de uma das mais belas digressões sobre esses prazeres terrenos, os bares e as bebidas. É dele, no livro de memórias Meu último suspiro, passagens como estas:
“Passei horas deliciosas nos bares. O bar para mim é um local de meditação e recolhimento, sem o qual a vida é inconcebível (...) Específico, em primeiro lugar, que faço uma distinção entre bar e o café. Em Paris, por exemplo, nunca consegui um bar adequado. Em compensação, é uma cidade rica em cafés admiráveis. Pode-se imaginar Paris, sem seus terraços maravilhosos, sem suas tabacarias? Seria o mesmo que viver numa cidade destruída por uma explosão atômica.
(...) Antes de mais nada tem que ser tranqüilo, bastante escuro, muito confortável. Toda música, mesmo distante, deve ser previamente proscrita (contrariamente ao hábito infame que hoje em dia se propaga pelo mundo). Uma dúzia de mesas no máximo, se possível com freqüentadores habituais pouco falantes.
(...) Nossa época devastadora, que tudo destrói, não poupa nem os bares”.
Não poupou Buñuel que se foi. Não poupou os bares que, como tudo, se transformaram. Como os grandes cinemas que viraram bancos, como tradicionais restaurantes que viraram fast-food, os bares também foram se adaptando como puderam. Foi-se o tempo das mesas abarrotadas de dezenas de cervejas, de uma certa “democracia social” na clientela, da pendura, etc. Hoje, as contas já vêm automaticamente divididas por pessoa. Que cada um se vire como puder: pendura é uma palavra que não consta no dicionário dos tempos modernos e a segmentação (cada um na sua praia) é um dado presente.
Aliado a isso, o custo de vida, o aumento da violência os indefectíveis “flanelinhas”, o ritmo frenético foram propiciando o estilo “pegar um vídeo para ver em casa”. Daí, a obviedade da máxima: NÃO FOI O BRITZ QUE MORREU, MAS UMA ÉPOCA QUE ACABOU.
Só que novas gerações chegam todo dia. E chegam literalmente, sedentas. Senão de poesia e amor, certamente de bebida. Já que as revoluções já foram feitas e os muros derrubados, inventem-se novos motivos para saciar a curiosidade e satisfazer o desejo.
E chega-se a um passado recente, pós-Britz: os bares de Jardim da Penha. Surgidos no final da década de 70 e início de 80 eles apareceram para ficar. Alguns de vida curta, outros permanecem. Ficar, entenda-se, tem o significado do tempo que a lei de mercado permite. A nova especialização da cidade trouxe para Jardim da Penha uma população de classe média, basicamente jovem, que transitava da CST para o Porto de Tubarão até a UFES.
O eixo dos bares seguia a linha da Praça do Santa Martha (nome do antigo supermercado) e por lá surgiram o Barcorella, o Zepocler, a Mama e o Adega. Em outra ponta o Cochicho da Penha, o Argentino e o Socó monopolizavam a preferência do público universitário.
Essa geração é intermediária entre o Britz e a dos dias atuais e se defini-la pode resultar em esforço inútil, algumas pontuações podem ser assinaladas. Há um rompimento natural que marca a diferença de uma geração a outra. Os tempos são outros e o Brasil tem a cara da desilusão, da descrença, melancolia. E essa geração, se não chegava a ser niilista, também não tinha um sonho coletivo, de querer salvar o mundo ou coisa do gênero. As peculiaridades eram totalmente individuais e sem maiores culpas.
O ponto central dessa geração tinha como endereço a Bar Adega. Meio escondido numa rua lateral da praça central de Jardim da Penha, ele era um refúgio acolhedor. E tinha, por exemplo, algumas características citadas por Buñuel para um bom bar: escuro, com poucas mesas pretas, sem música ao vivo, com um público que, exceto aos sábados, sempre se repetia. Um bar que parecia um clube fechado com um dono (Reginaldo) sempre mal-humorado e de poucas palavras. Ou seja, um lugar onde se podia beber tranquilamente, sem estridências e estardalhaços.
Da varanda observava-se o crescimento do bairro e rapidamente o cenário ia mudando. O Adega permanecia tranqüilo: mesmo nos dias de maior movimento o clima era calmo (sem ser monótono) e se a freqüência era agitada, não era barulhenta ou desagradável.
E é essa geração dos filhos do Britz.
Pessoas que ou pegaram o rabicho do Britz ou nem chegaram a conhecê-lo, mas que sem consciência fizeram parte na história do cotidiano de uma cidade. Outra geração, outros costumes, outra época. Um bar quase heavy-metal que fez cultura.
Dos freqüentadores voltamos aos escritores: o primeiro, mais assíduo, Sérgio Blank, fazia parte do mobiliário da casa. Numa época dark, com seu visual de Nosferatu, o vampiro, Sérgio personificava o bar. Branquíssimo, cabelos louros, roupa preta, ele dava o tom. Outros, tão freqüentes quanto, eram os músicos. Em particular grupos de rock como “Pó de Anjo” e “Thor”. Os músicos Juca Magalhães (e as irmãs Paloma e Fernanda), Marcelo Triffin, Marcos Muralha e Dodó, Jeder, Renzo, Alexandre Lima etc. batiam ponto regularmente.
Outro regular, Hugo Júnior Brandião, professor de administração da UFES, dava outro tom. De Aristóteles e Hegel, de Weber a Pagès, mapeava-se a burocracia em louvor a Baco, dionisiacamente. Com serenidade e humor unia-se ética à estética e, separados ou juntos, compartilhava-se com outros freqüentadores, assíduos ou não: os jornalistas Aldi Corradi e William, João Barreto, José Arthur Bogéa, Magda Carvalho; os artistas plásticos Lincoln, Nina, Duda, Sazito, os fotógrafos Zanete Dadalto, Alexandre Krusemark; os economistas Maria da Penha Cossetti, Juan, Alejandro; o vídeo-maker Ricardo Sá, o poeta Marcus Nycodemus; mais a arquiteta Luciana Vasconcelos, Joca Simonetti, Fatinha, Léo, Cláudia Sampaio, Mauricio Nogueira etc etc etc.
Esporádicos ou assíduos, de novas ou velhas gerações havia um congraçamento. Se alguém já disse: “bebo para tornar as pessoas mais interessantes” e se “o ser humano está sempre duas doses abaixo do normal” que se pague o pedágio. O preço, alto ou baixo, é individual, e como quase tudo, solitário.
A diferença é o traço da peculiaridade. Sobrevive o que é original, distinto, o que deixa impressa a marca. Mais que física, a marca não se registra na pele mas na memória afetiva das pessoas. Fluida ou etérea, ela não se desfaz na névoa da manhã. Ela está sempre lá, impressa não a ferro e fogo, mas no ar. Seja de “filhos do Britz” para “filhos do Adega” o bastão vai passando de mão, de geração para geração. É o nome próprio que assinamos quando atingimos uma maturidade não cronológica. É a assinatura, a identidade.
Dinossauros continuam, silenciosamente, procurando o seu bar.
Fontes: Escritores de Vitória, 1995
Autor: Luiz Carlos Almeida Lima
Compilação: Walter de Aguiar Filho, dezembro de 2013




O ano que passou, o ano que está chegando ao seu fim já não desperta mais interesse; ele é água passada e água passada não toca moinho, lá diz o ditado
Ver ArtigoPapai Noel só me trouxe avisos bancários anunciando próximos vencimentos e o meu Dever está maior do que o meu Haver
Ver Artigo4) Areobaldo Lelis Horta. Médico, jornalista e historiador. Escreveu: “Vitória de meu tempo” (Crônicas históricas). 1951
Ver ArtigoEstava programado um jogo de futebol, no campo do Fluminense, entre as seleções dos Cariocas e a dos Capixabas
Ver ArtigoLogo, nele pode existir povo, cidade e tudo o que haja mister para a realização do sonho do artista
Ver Artigo