A morte marca encontro no Bar do Tião
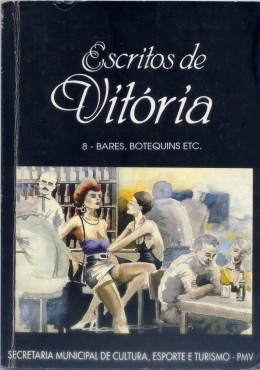 Capa do Livro –Artista: Wagner Veiga
Capa do Livro –Artista: Wagner Veiga
Nem só de bares da moda vivia a geração de boêmios da ilha de Vitória no final da década de 70. Fernando Tatagiba, Chico Flores, Zé Costa, Xerxes Gusmão, Milson Henriques, Amylton de Almeida e tantos outros amantes da noite que o digam. Nem tudo era Marrocos, Bar Santos, Mar e Terra, Britz e outras ruínas de saudosas memórias. Das delícias da ilha também faziam parte dezenas de outros botecos menos cotados.
O Bar do Tião, numa ruela escondida nas ruas transversais que desembocam na avenida Beira-Mar, era um desses fenômenos de ponto de encontro — do tipo pé sujo — que deram certo sem nunca entrar na moda. Freguesia das mais heterogêneas não podia existir. Era gente fluindo das seis da manhã até a passagem dos últimos ônibus, a caminho do centro da cidade ou no rumo da Praia de Camburi.
Foi num sábado — se bem me lembro — que tudo aconteceu. Soprava um vento sul bem suave na orla, realçando ainda mais a sensualidade das curvas da ilha. Não aquele que esbofeteava a solidão da Carmélia, mas apenas uma brisa que amenizava o calor daquele verão. No Bar do Tião começavam a chegar seus clientes mais habituais, que aos poucos iam preenchendo o vazio das mesas cativas. Por uma questão de tradição, só os estranhos sentavam nelas desavisadamente.
Sábado, 11 horas da manhã:
Além do Tião, que nos dias de semana só trabalhava à noite, era Bóris quem controlava o caixa durante todo o expediente. Esse apelido era uma homenagem a Boris Karloff, um antigo astro dos filmes de terror Classe B que Hollywood expor-tava para o mundo inteiro. E ele fazia jus ao nome que — segundo as lendas do bar — foi-lhe dado por Chico Flores, num dia em que, furioso, quase invadiu o caixa para pegar o troco e não chegar atrasado à redação da Gazeta.
Mas, quem comandava a copa e atendia as mesas era Paulette. "Com dois tês", se apresentava ela a quem lhe perguntasse o nome. "Meu bem", "Florzinha" ou "Frufru", eram alguns dos muitos adjetivos que lhe dirigiam os fregueses mais íntimos. Com os estranhos não gostava de intimidade. "Minha Princesa" era um tratamento exclusivo do Dr. Monteiro, um advogado meio tarado que vinha de Vila Velha, todos os sábados, só para vê-la.
Mulato empinado e esguio, cabelo espichado e muito trejeito no equilíbrio da bandeja. Assim era Paulette, que detestava ser chamado de bicha. "Pejorativo", dizia ela. Mas, o hormônio que antes realçava "suas formas", há muito não entrava na lista de suas primeiras necessidades. A oxigenação e os cuidados com os cabelos, também. Ultimamente não passava de uma bichona decadente. Mas não vinha de longe essa decadência. Pouco mais de seis meses, desde que começaram suas brigas com Pereirinha, um soldado do Batalhão da PM e sua grande paixão.
Vivia com ele desde que veio transferido de um quartel de Linhares, por suspeitas de envolvimento numa série de crimes. No princípio foi um mar de rosas e Paulette se derretendo toda. Depois, Pereirinha passou a hostilizá-la e a coisa ficou na base da cafetinagem. Fim de semana que não tinha dinheiro na mão, o que rolava mesmo era a porrada. E nisso ele era um mestre. Do tipo dependente emocional, a cada olho roxo, Paulette ficava mais apaixonada. "Paixão demoníaca", dizia ela nas depressões que pintavam depois das surras.
O problema foi que Pereirinha deu para sair com outra bicha que fazia ponto num cabaré do fim da orla de Camburi e o caldo entornou. A outra, de grana mais fácil, se auto-intitulava transformista da noite e vivia de shows de strip-tease. Concorrência das mais desleais. Mulheres até que Paulette tolerava, mas outra bicha era demais. Sua capacidade de ser humilhada tinha limites. Com o triângulo amoroso, veio o ciúme doentio e, por desdobramento, os hematomas cada vez mais constantes. Depois, a decadência lenta e gradual. Cada vez mais cruel e ressentida. Ultimamente só trabalhava bêbada e, não raras vezes, drogada. Sob os olhares de censura do Bóris e com a cumplicidade de velhos clientes, que ocultavam seu copo em suas mesas, onde bebia escondida. E naquele sábado Paulette chegou para trabalhar mais tarde do que de costume. Coisa difícil de acontecer. Estava pálida e com o olhar vago de quem tinha cometido alguma loucura. Algo deveras monstruoso.
— Meu Deus, tenha piedade de minha pobre alma! — foi só o que murmurou no canto da copa.
Sábado, meio-dia:
A mesa do velho Jackson Lima estava repleta do pessoal mais moderado, dos que apenas faziam hora enquanto o almoço não saía em casa. Eram velhos companheiros de imprensa. Dos tempos da Gazeta impressa em linotipo e da revista Vida Capixaba. Estava ali um jornalista dos bons tempos. Dos tempos em que não se tratava a gramática por Vossa Excelência, mas com toda intimidade. Dos tempos em que os jornalistas eram forjados nas redações e não nas escolas de comunicação.
Sábado, 3 horas da tarde:
Quem bebia apenas à espera da hora do almoço já havia ido embora. Começava a renovação das tardes e noites de sábados. Começava também a "Operação Pé-Inchado", como era conhecida pelos motoristas de táxi, Charmoso e Almirante, de um ponto próximo ao bar. Pontualmente, naquele mesmo horário, encostavam os carros para pegar seus clientes habituais. Dr. Barcelos era o mais habitual, como sempre dando carona ao Chico Flores — seu fiel escudeiro — que, como ele, também morava em Vila Velha.
Sábado, 4 horas da tarde:
Mary-Shave chegou mais cedo que de costume. Prostituta aposentada dos bordéis de Carapebus, foi parar no bairro, levada por um português com quem casou de papel passado. Depois que enviuvou, voltou a freqüentar as noites dos finais de semana. Não mais como profissional, mas apenas para não perder a forma e enganar o tédio da aposentadoria. Depois de uma longa temporada freqüentando os bares e cabarés da cidade, ultimamente fazia ponto no Bar do Tião, onde era cortejada ardentemente pela velha-guarda.
Alforriada do passado, pelos escudos e casas de aluguéis deixadas pelo velho lusitano, é hoje uma dama acima de qualquer suspeita. Espera que a noite encubra a curiosidade dos vizinhos, joga nos ombros o xale da Ilha da Madeira e caminha misteriosa pelas sombras até os bares de sua preferência, onde sempre chegava em elegantes táxis. Lá no escurinho dos cantos mais afastados, depois de vários licores, não havia o que temer.
Além do exotismo exagerado e brega, era famosa também por receber certa cabocla ninfomaníaca, que fazia dela gato e sapato nas noites de sábado. Mary-Shave era o apelido que lhe dera certo marinheiro americano, de um contratorpedeiro que ancorou no Porto de Vitória durante a Segunda Guerra Mundial. O apelido também fazia alusão a um outro instrumento que usava no desempenho de sua profissão: uma navalha do mais puro aço sueco. Navalha essa que desenterrou do fundo do baú, para presentear, no sábado anterior, à sua amiga Paulette, que lhe confidenciara estar procurando uma para comprar.
E naquele sábado, Mary-Shave estava como o diabo gosta. Com um deslumbrante vestido de tafetá rosachoque, aberto nos dois lados, carregada na pintura e com todos os penduricalhos que conseguiu pendurar no pescoço e nos pulsos. Como nos bons tempos de Carapebus.
Sábado, 5 horas da tarde:
Quem voltou a freqüentar o bar foi Maria Tudo-Bem. E entrou pisando duro. Da porta, correu os olhos de águia pelo salão em busca de alguma presa. Aparentemente não se interessou pelas duas novatas que Murilão estava administrando. Mesmo porque, no fundo, não gostava de profissionais. Depois de um muxoxo de fastio, comprou várias fichas da vitrola automática do tipo "mamãe eu vou à zona" e se acomodou numa das mesas com um copo de caipirinha. Com um gosto um pouco mais refinado — graças ao seu intercâmbio "cultural" com a turma da Carmélia — pelo menos evitou que o som de Waldick Soriano e Amado Batista poluísse o salão.
Paulette, com quem mantinha intimidade e confidências no bar, passou por sua mesa sem reconhecê-la. Parecia um zumbi, de tão desligada. Maria não admitiu a descortesia e chamou-a duramente com seu vozeirão de tenor. Paulette se aproximou com uma desculpa qualquer, puxou uma cadeira e sentou-se. Com os olhos turvos, segurou as suas mãos e balbuciou alguma coisa baixinho. Depois, deixou a cabeça cair sobre a mesa ante o olhar embasbacado da amiga. Quando se levantou para atender as mesas que reclamavam sua presença, Maria Tudo-Bem ainda não tinha se recobrado do susto.
— Meu Deus! ... — foi só o que conseguiu falar.
Sábado, 6 horas da tarde:
Zé Rasputim, com seu cacoete de ajeitar a camisa no peito, tomava cerveja e observava o movimento. Também aquela não era a hora dele freqüentar o bar. Parece que não estava legal. E o que era pior, desafiava abertamente a velha maldição daquele canto do balcão. Ali, presa na parede, uma tabuleta feita por algum engraçadinho analfabeto homenageava a lembrança dos treze finados que naquele canto beberam até morrer: "RE-VERTERIBUS AD LOCUS TUUM". Ao que parece não acreditava na superstição nem nos conhecimentos de latim do engraçadinho que, por certo, escrevia segundo um dialeto de alguma aldeia encravada nos confins da Macedônia.
Capitão Adilson, velho lobo do mar e temente das profecias, bebia em seu canto favorito do balcão. Ali, Tião — dono do bar — jurava de pés juntos e um sorriso matreiro nos lábios que nenhum dos treze finados havia cavado trincheira. Mas seu olhar traía essa lenda. Élcio Bacalhau, Percy e Tião Sanfoneiro trocavam ideias descuidadamente no canto onde uma placa avisava: "Sic transit gloria mundi". Esse canto era passagem obrigatória para o banheiro, onde, de acordo com a placa, um cheiro nauseabundo alertava os usuários quanto às efemeridades das glórias do mundo.
Sábado, 7 horas da noite:
O bar tumultuou bastante com a chegada dos operários do canteiro de obras da Terceira Ponte. Como aves de arribação, se uniam em grupos ou, simplesmente, se espalhavam solitários pelo salão. Ribamar, mestre-pedreiro da obra, preferiu uma das mesas do fundo, onde começou a tomar seu porre semanal. Como todos os outros, cuja rotina era beber nos finais de semana e na segunda-feira voltar ao batente e à solidão dos alojamentos do canteiro de obra. E com a peãozada chegou também a notícia — nada boa para o Tião — da desativação da obra. Todos seriam dispensados no início da semana seguinte.
Gênio caladão e retraído, Ribamar admirava quase que petrificado a elegância brega e extravagante dos gestos de Mary-Shave. Ela, sentindo-se cortejada tão ardentemente, mais se pintava e empoava no toalete feminino. A aproximação foi simples e apaixonada. Ribamar ofereceu-lhe um copo de cerveja e ela, fingindo vergonha, apenas balançou a cabeça num gesto afirmativo.
Mais perto, com os olhos embaçados pela bebida e arfando de desejo, Ribamar rastejou seus olhos do alto de sua cabeça, onde equilibrava um penteado exótico, até os pés, cujas unhas, pintadas com um esmalte berrante, completavam a aura de pecado. Ao som de um bolerão de Waldick Soriano, deram-se as mãos e ficaram se olhando. O olhar de Mary-Shave era de puro êxtase. Já o de Ribamar traía um brilho estranho como ela nunca havia visto. E só então ele balbuciou as primeiras palavras a que se atrevera desde que chegara ao bar.
— Meu nome é ...
— Por favor — interrompeu ela — Posso te chamar de Manoel?
— Está bem ! ... Sai comigo?
— Pra dormir?
— Mereço esse privilégio?
— Então, espere um pouquinho enquanto me ajeito no toalete.
Sábado, 8 horas da noite:
Zé Coruja observava o movimento. Em silêncio e mamando solitário sua cerveja. A pinguçada oficial daquele canto da ilha começava a atacar: Siri, Fogo-Eterno, Rubim, Chorão. Pé-de-Chumbo e outros menos conhecidos. Todos sabiam que depois de umas e outras os operários da Terceira Ponte liberavam geral. Saudosos de casa, das famílias e de suas cidades, a paraibada não dispensava um bate-papo, cujas rodadas de pinga sempre sobravam para eles. Era uma festa.
Franklin da Cesan discutia nervosamente com o poeta Xuxu. O assunto era o mesmo: quais as perspectivas para término da primeira fase da Terceira Ponte. Essa era a pergunta que há meses vinha lhe fazendo sempre que se embebedava. Acreditava ele que Franklin, por fazer parte de um dos escalões do governo, lhe forneceria uma informação mais atualizada. Parecia uma obsessão.
Era estranho aquele interesse de Xuxu. Desde o início da construção, vinha acompanhando religiosamente pela imprensa o desenvolver das obras. Ultimamente aquela obsessão vinha aumentando de intensidade, preocupando todos os amigos e admiradores. Não recitava mais seus versos esperados por todos que ficavam para as últimas rodadas. E quando o fazia já não era o mesmo de sempre. Declamava versos cheios de desilusões e baixo-astral. Só falava de solidão, amores não correspondidos e morte. O que teria a ver a Terceira Ponte com sua nova fase literária?
Sábado, 9 horas da noite:
Juventino, cinqüentão rijo e carapinha branca, de longe observava o namoro de Ribamar e Mary-Shave. Ao vê-los sair abraçados, apenas coçou nervosamente a pele do pescoço, sem saber por que ou, talvez, pela irritação de uma barba feita às pressas. "Aquela dona, se não é, tá mais do que fantasiada de prostituta. E isto não tá me cheirando bem," pensou ele, ainda coçando, instintivamente, a pele do pescoço curtido pelo sol. Como capataz da obra, sentia-se responsável por todos. Por Ribamar, seu irmão caçula, era mais do que responsabilidade.
Da calçada, no lado de fora, observou-os subindo a rua, em direção ao ponto de táxi. Depois, pensativo, voltou ao copo de cerveja que deixara na mesa. O que lhe viera à cabeça era de muito mau agouro. Seu irmão estava novamente embriagado. E a lembrança dos misteriosos estrangulamentos de prostitutas, nas proximidades das obras e nas cidades em que trabalharam, ainda o preocupava. Alguma coisa lhe dizia que não era coincidência. Sorte que a polícia ainda não tivera a mesma idéia. Sorte ou incompetência, já que essas obras estavam espalhadas pelos cafundós do mundo. "Mas agora estamos numa capital", pensou ele com certa apreensão.
A foto de uma prostituta degolada, na primeira página de um jornal do Pará, ainda lhe causava arrepios. Tinha certeza de tê-los visto juntos, dançando num cabaré de Marabá, na noite em que comemoravam o término das obras da Represa do Tucuruí, antes de virem para Vitória. Já naquela época ele ligou os fatos, lembrando-se de vários outros crimes ocorridos nas proximidades das obras em que trabalharam. Sempre no término das obras, quando viajavam para lugares distantes em busca de outras construções.
— Tomara Deus que não! — resmungou ele, agora em voz alta.
Sábado, 9 horas e 30 minutos da noite:
Severino, um mestre-carapina da obra, bebia numa mesa próxima a uma das portas do bar. Tinha sido despedido na semana anterior, quando começara a desativação. Infelizmente contava ficar pelo menos por mais um ano, quando contava ter dinheiro bastante para voltar para sua cidade natal, no interior do Ceará. Tinha um plano que amadurecera durante toda a semana e que colocaria em prática naquele sábado: assaltaria o Bar do Tião no final do expediente. Ainda não sabia como, mas isso era assunto para pensar na hora. Já havia sacado toda sua poupança, economia de três anos, e colocado numa mala, junto com o dinheiro do fundo de garantia e da indenização. "Pouco, muito pouco para o que eu preciso," resmungou ele, acariciando o cabo do revólver e o aço da peixeira.
Sábado, meia-noite:
O poeta Xuxu ficou ainda mais triste quando soube da paralisação da obra. Amigo e ídolo da peãozada, para quem declamava lacrimosos poemas, conseguiu de um deles um estranho favor. Passaria no canteiro de obras no domingo de manhã, quando esse amigo o levaria para passear no trecho já construído da ponte. "Cuidado porque é muito alto e num trecho muito perigoso do mar", advertira o amigo. E o estranho é que Xuxu pareceu ter ficado satisfeito com esse detalhe.
O bar já estava quase vazio e prestes a fechar. O sábado — como esperava Severino — fora de muito movimento. Este, em seu canto, fez um cálculo do quanto haveria no caixa e se deu por satisfeito. Novamente recapitulou o local onde haveria de pegar a carona no caminhão que o levaria a Fortaleza naquela madrugada. Já havia combinado com o motorista que dormiria com ele na cabine, onde já estava sua bagagem, para não perderem a hora.
— Só espero que Deus me ajude e que não tenha de sangrar mais de três, — blasfemou ele referindo-se a Tião, Bóris e Paulette, que sempre ficavam para um acerto de contas depois que o bar fechava.
Sábado, meia-noite e 45 minutos:
Paulette azulou de medo ao ouvir um zumbido intermitente, de algo que já lhe fora muito familiar, quando frequentava a marginália do baixo-meretrício das bandas de Santo Antônio: a sirene da polícia. Rezou para que diminuísse de volume, indo para bem longe. Depois, perdeu-se em mil pensamentos confusos. Só voltou a si ao ouvir a freada brusca, bem em frente ao bar. De dentro da viatura saltaram dois brutamontes que, em fração de segundos, já arrastavam a pobre Paulette para fora. Ninguém esboçou a menor reação.
— Mas quem são vocês? — tentou reagir. —
O seu destino, boneca! — ironizou um dos policiais.
— E para onde me levam? — gritou ela quando já caía emborcada na parte traseira do camburão.
— Para o Paraíso, sua filha-da-puta!
Domingo, uma hora da manhã:
"Agora ficou mais fácil," pensou Severino, aproveitando a confusão enquanto se escondia num compartimento cheio de caixas, ao lado do banheiro. Bóris e Tião expulsavam os últimos fregueses, enquanto iam arriando as portas e fechando por dentro. Até a última, quando respiraram aliviados. Depois colocaram toda a féria do caixa em cima de uma mesa e começaram a contar. Agora, mais calmos e tomando cerveja, como sempre faziam depois do expediente.
Atrás deles, a porta do compartimento onde se escondia Severino, esperando o tempo passar e fazendo planos para o futuro. Não tinha pressa, porque havia muito dinheiro a contar. "Tanto melhor", pensou ele. Depois era só esperar que o movimento da rua acabasse por completo. Enquanto isso, acariciava o cabo da peixeira e um porrete. "O revólver, por causa do barulho, só em último caso," pensou de novo. Tinha ainda mais de duas horas pela frente, até a hora marcada com o chofer.
Domingo, 7 horas da manhã:
O vento sul, agora mais forte, esbofeteava o rosto dos pedestres e dos atletas da orla marítima. Mas uma cigarra, cantando fora de hora numa das árvores, anunciava que ele não traria chuva. Amanhecera um domingo como tantos outros, naquele verão do final dos anos 70. Carmélia Maria iria adorar, se ainda estivesse viva, no seu passo lento a caminho da redação da Gazeta. Soprava um vento sul como só ela gostava.
Segunda-feira, de noitinha no Bar do Tião:
O assunto tinha sido o mesmo durante todo o dia. Ora uma versão do Tião, ora as explicações do Bóris. Nunca o bar estivera tão movimentado numa segunda-feira. Todos queriam saber detalhes da tentativa de assalto na noite de sábado. O fato rendera uma grande manchete nos jornais de Vitória, com a foto de Severino algemado, ladeado por Bóris e Tião, ambos com pequenos curativos sem menor importância.
Ribamar tomava cerveja com Mary-Shave, na mesma mesa que ocuparam no sábado. Dessa vez, na companhia do irmão Juventino, com quem comemoravam um noivado que havia sido sacramentado na tarde de domingo. O casório seria para breve, deixaram bem claro, tão logo corressem os papéis. Mary-Shave queria tudo dentro dos conformes da lei. Juventino não cabia em si de alegria, principalmente pelas explicações do irmão, que provou nada ter a ver com as tais mortes.
Paulette era a mais eufórica com aquele namoro, principalmente depois de ter sido inocentada da morte do Pereirinha, naquele mesmo domingo, com a ajuda do Tião e Bóris. O outro travesti — segundo suspeito do caso — confessou tudo para a polícia. Fizera uma visita a ele naquele sábado, no quarto da Paulette, e tudo aconteceu. Apenas a navalha pertencia à pobre Paulette, que não se encontrava em casa. Na manhã do crime, almoçara com uma irmã, em Vila Velha. Fato testemunhado por várias pessoas.
O caminhão da carona, a caminho de Fortaleza, já havia passado por Salvador. Ganhara bastante tempo iniciando a viagem antes da meia-noite, com a bagagem e todo o dinheiro enquanto Severino ainda planejava o assalto. E naquela noite, o poeta Xuxu levou todos ao delírio, declamando um poema imenso à Baía de Vitória, dessa vez, visto de cima da ponte.
Fonte: ESCRITOS DE VITÓRIA — Bares, Botequins etc... – Volume 8 – Uma publicação da Secretaria de Cultura e Turismo da Prefeitura Municipal de Vitória-ES.
Prefeito Municipal - Paulo Hartung
Secretário Municipal de Cultura, Esporte e Turismo - Jorge Alencar
Coordenadora do Projeto – Miriam Santos Cardoso
Conselho Editorial – Joca Simonetti, Pedro J. Nunes, Sérgio Blank
Assessoria Técnica – Biblioteca Municipal de Vitória
Revisão – Reinaldo Santos Neves, Enyldo Carvalinho Filho
Capa – Wagner Veiga, acervo do artista
Editoração Eletrônica - Edson Maltez Heringer
Impressão - Gráfica e ITA
Autor do texto: Pedro Teixeira
Compilação: Walter de Aguiar Filho, junho/2018




O ano que passou, o ano que está chegando ao seu fim já não desperta mais interesse; ele é água passada e água passada não toca moinho, lá diz o ditado
Ver ArtigoPapai Noel só me trouxe avisos bancários anunciando próximos vencimentos e o meu Dever está maior do que o meu Haver
Ver Artigo4) Areobaldo Lelis Horta. Médico, jornalista e historiador. Escreveu: “Vitória de meu tempo” (Crônicas históricas). 1951
Ver ArtigoEstava programado um jogo de futebol, no campo do Fluminense, entre as seleções dos Cariocas e a dos Capixabas
Ver ArtigoLogo, nele pode existir povo, cidade e tudo o que haja mister para a realização do sonho do artista
Ver Artigo