Horas de Lazer nos anos 40 em Vila Velha – Por Seu Dedê
 Como era o Centro de Vila Velha na infância do Seu Dedê
Como era o Centro de Vila Velha na infância do Seu Dedê
As brincadeiras eram comuns a todas as crianças, sem distinção de classe social. Tínhamos muitas e muitas
Bolinha de gude, também conhecida na época como bola de vidro. Todos podiam jogar desde que possuíssem bola para casar na barquinha.
O cenário: sem calçamento, sem carro para passar criança descalça.
Local escolhido: o chão mais pisado e que apresentasse mais espaço onde coubesse a barquinha e a linha de partida (ponto). No chão, depois de acordadas as regras, era traçada a barquinha e mais além uma linha indo de um lado ao outro da rua.
Para iniciar, os contendores depositavam (casavam) uma ou mais bolas na barquinha, conforme o acordado, e davam a partida. Posicionados atrás da barquinha, os jogadores lançavam a gudeira (bolinha principal) em direção à linha traçada para ver a classificação dos "pontos". O que conseguia botar a bola dentro da linha seria o primeiro a jogar e o restante, por ordem de aproximação; se desse empate no primeiro lugar, havia disputa entre os dois definindo o primeiro e segundo lugar, respectivamente. Sempre jogava para ganhar tendo o máximo de chances. Por exemplo: sendo o primeiro da vez, você tem de se defender, atacar e ganhar.
Decidido, o primeiro dá a partida lançando a gudeira em direção à barquinha, colocando-a o mais próximo possível e em posição que evite ser morto (a bola não pode ser tocada pelo adversário, o que significa matar, porque morrendo sai do jogo e perde-se aquela partida); e todos vão jogando e tomando suas posições. Pela ordem, vão se defendendo e tentando tirar as bolas da barquinha. Se perder o teque, dá a vez ao jogador seguinte, e este escolhe o mais próximo para matar. E a seguir, outro e outro ou então se dirige à barquinha para soltar e ganhar algumas bolas nela casadas. Enquanto acerta continua jogando, até errar. Neste caso, deixa de ser o caçador para ser caçado. Assim prossegue o jogo, até terminar as bolas casadas na barquinha. O que tira a última bolinha pode tentar matar um dos jogadores que tenha ganhado suas bolinhas, e, quem estivesse perdendo podia cair fora. Problema era para o que estava ganhando e quisesse sair...
Como sempre, os jogadores mirins, enquanto jogavam prestavam atenção: se aparecessem, os grandalhões fariam a "rapa", deixando-os lisos.
O papão era também jogo de bolinha de gude. Podia ou não haver aposta, e só ganhava aquele que prendesse o adversário na casa (buraco) que não era a da vez dele. Eram feitos, em forma triangular, três buracos no chão (um em cada vértice), sendo um deles o de partida; a sorte era tirada para ver quem iniciava o jogo.
Postados numa linha, na distância pré-estabelecida da casa principal, pela ordem, cada participante atira sua gudeira procurando cair dentro da casa principal; se acerta continua o jogo até errar; a seguir, o segundo procede da mesma maneira e, acenando a casa, pode escolher o adversário e tentar prendê-lo numa outra casa que não seja a da vez. E assim segue o jogo.
Com o polegar de uma das mãos apoiado na borda do buraco de partida, o primeiro jogador traça um meio círculo e com a outra mão sobre a linha traçada, lança (teca) a bola para o segundo buraco (sentido anti-horário), e dessa maneira vai rodando de buraco em buraco até completar a terceira rodada. Daí em diante vira papão e pode ganhar o jogo se conseguir comer os demais jogadores; pode utilizar todos os buracos e quando ele estiver dentro de um deles o jogador da vez evita cair no buraco para não ser comido e tem de fugir, esperando que o buraco seja desocupado. Se todos se tornarem papão, brigam no toque um matar o outro até sair o vencedor. O jogador da vez podia ir tecando sem errar, quantas vezes fossem necessárias, para prender um dos adversários na casa que não fosse da vez dele. Se errasse o tegue, perdia a vez. Na falta da bola de vidro jogávamos com tampinhas de garrafa (champinha).
As champinhas (tampa de garrafa de bebidas) tinham valores definidos: 10, 20, 50 e 100 pontos; era casada na mesma barquinha e a gudeira era feita de um pedaço de louça de fundo de prato, que era arredondada esfregando-a de encontro à calçada até ficar no formato desejado. Jogo idêntico ao da bola de vidro.
As champinhas eram colocadas nos trilhos dos bondes para serem achatadas, e depois serviam para improvisar um pandeiro, usando-as pregadas à borda do arco de uma lata de goiabada vazia.
A girica também servia de alternativa para a falta da bola de gude. Era muito usada na infância, por filhos de pais de pouco recurso. As giricas eram retiradas, quando maduras, de uma árvore do mesmo nome (girica) e postas para secar. Levadas à água, sua casca era retirada, e, depois de enxutas, usadas.
O jogo de piões era bastante disputado, entre os meninos, numa barquinha de forma circular. Conforme o combinado, casava-se nela um ou mais piões. O jogo é iniciado depois da disputa dos respectivos lugares, cada um visando acertar e tirar da barquinha os piões casados. Se o pião jogado não sair da barquinha ele fica preso e faz parte dela, podendo ser substituído por outro que o jogador tem de reserva e de pouca valia. Visando evitar este inconveniente, a gente aumentava a ponteira do pião para assegurar sua carreira, porque quanto maior a ponteira maior a carreira. Porém, se o pião lançado não saísse da barquinha por falta carreira ou se corresse para o lado errado onde estavam presos outros piões que o impedissem de rolar, ele também ficava preso.
Quem possuía piões torneados como o saudoso amigo Mane (quando menino), era assediado para o jogo. Se perdesse seus piões levava para casa os piões ruins dos adversários. Como todos os demais jogos de rua, de quando em vez era interrompido com o grito de "rapa" e todos corriam para salvar o que pudesse. O recurso dos menores era chorar até que algum outro o consolasse, oferecendo parte do "rapa".
Outra farra era o jogo de ferrinho, com que meus filhos ainda se divertiram muito. Era assim: um pedaço de vergalhão de mais ou menos 20 centímetros de comprimento e 3/4 diâmetro, aguçado em uma das extremidades. Preparado o ferrinho, dois ou mais jogadores vão decidir quem ganha o jogo. Esse jogo era a diversão dos meninos, podendo meninas dele tomar parte. O terreno próprio para o jogo devia estar úmido, principalmente depois da chuva porque até na argila era possível jogar.
Cada jogador fazia sua casa em forma de círculo e um X era traçado no chão para definir quem iria iniciar o jogo; quem acertasse o centro seria o primeiro a jogar. E por aproximação do eixo, os demais jogavam. No caso de empate havia nova decisão. Também para facilitar, um simples risco no chão seria válido para disputa por aproximação, na colocação no jogo. Ao sair da casa o jogador marca o seu caminho atirando o ferrinho, fixando-o ao chão numa distância nunca superior a dois palmos, e ligando um ponto ao outro atingido. E assim por diante.
O primeiro sai de casa em direção à casa do vizinho e a cerca, deixando uma pequena fresta para a saída; se por acaso não fixa o ferrinho no chão, perde a vez, cedendo-a ao seguinte. O jogador não pode ferir nenhuma linha. Quando erra, o jogador seguinte tenta proteger seu território e procura dificultar quem o estava ameaçando para ir a forra. E tem que circular a casa de cada um dos adversários, inclusive a dele próprio, antes de entrar em casa e ganhar o jogo. Muito bate boca e briga. Os mais "queimados" se aborrecem e saem do jogo p. da vida. O encrenqueiro, para tentar jogar em outra hora, tem de fazer muita promessa de que não vai fugir e jurar pela mãe...
O pique, no meu tempo chamado de picolé, era brincado nos quintais das casas ou mesmo em terrenos baldios, onde existiam esconderijos atrás das moitas ou sobre as árvores.
A barra era a brincadeira da noite de lua. Eram previamente selecionadas duas equipes que podiam ser mistas (meninos e meninas). Cada equipe ficava posicionada no campo neutro atrás de sua raia; a raia era uma linha traçada no chão para cada equipe; e; entre essa linha, a certa distância, outra linha dividia as raias adversárias. Ao grito de "Já!", começava a brincadeira, cada equipe tentando invadir o campo adversário, sem que ninguém o tocasse até atravessar a linha do campo neutro. Antes de ser pego, tinha que fazer o inimigo se aproximar da raia e ser perseguido até prendê-lo e levá-lo para um círculo próximo à sua raia. A prisão podia ser acrescida de mais prisioneiros, como também podia o preso ser liberado por seus companheiros. Para isso tinha que burlar o cerco, não se deixar ser tocado para não ser preso também. Ao tocar na mão do prisioneiro este ficava livre. Para salvar o prisioneiro, o jogador tentava invadir a linha do inimigo e na fuga tocar no preso. Ele escolhia o inimigo mais fraco e de dentro do campo, os dois de mãos espalmadas, o fujão ia batendo na mão e proferindo: "Barra, manteiga, bem tirada da mão de...", e rápido falava o nome ou blefava dizendo ninguém! Também blefava ao dizer na mão de fulano e introduzir, antes de ser tocado, um dos pés dentro da linha inimiga. A brincadeira prosseguia até que uma das equipes prendesse toda a equipe adversária.
Bandido e mocinho ontem e hoje, que naquele tempo havia aonde se esconder: atrás das moitas, em buraco, em cima de árvores, nas casas vazias etc. A expressão "camone, bói!" era usada para prender o adversário, quer fosse mocinho ou bandido. Na falta de arma de brinquedo, um gancho de madeira ou qualquer uma tralha servia para substituí-la. Era o "faz de conta". Quem visse o adversário e falasse primeiro era o vencedor.
Soltar raia tendo o vento favorável era a grande pedida nas férias e aos domingos e feriados escolares. Não conhecíamos o cerol, usávamos o barbante de fios de tucum; em vez do bambu fazíamos nossas raias na forma hexagonal utilizando três pedaços de flechas abertas ao meio, sendo dois pedaços maiores e o do meio dois terços deles; depois de amarrados ao meio passava-se um barbante ligando um ao outro para dar estabilidade e a seguir era colado o papel; do centro do amarrado deixava-se sobrar um pedaço do barbante, no tamanho de mais ou menos trinta centímetros, onde seria amarrado o cabresto formando, com as pontas das duas extremidades da raia, uma figura de uma pirâmide triangular; nas extremidades inferiores da raia era passado um pedaço de barbante para servir de âncora ao rabicho. Concluída, a operação era testada antes de ir à briga, fazendo o acerto do tamanho do rabischo, do cabresto e do seu equilíbrio. Testada, era colocada, na extremidade do rabicho, uma vareta tendo na ponta uma gilete que servia para cortar o barbante do adversário, era chamado de corta-fio. O barbante era limpo e não tinha coberta de cerol; a raia hoje é chamada de pipa, as varetas são de bambu e o rabo é chamado de rabiola.
Arco de barril – Devido a falta d’água era comum haver nas residências um ou mais barris para armazená-la. Apanhava-se água onde houvesse. Os barris, depois de usados pelos distribuidores e engarrafadores de vinho de Vitória, eram vendidos ou dados para desocupar o depósito nos armazéns. O morador pregava um grampo no centro de cada uma das tampas (extremidades) do barril onde engatavam as duas pontas de um comprido arame; segurando o arame ao meio, o barril era puxado. Rolando, ia ao local da fonte, e cheio, era rolado de volta até suprir a necessidade do morador.
Ficando imprestável, o barril se transformava em duas tinas e o arco do centro era aproveitado para as crianças brincarem de rolar. Com um pedaço de cabo de vassoura, nele fixava uns vinte ou trintas centímetros de arame rígido e na ponta do arame fazia uma dobra, em forma de U, onde era encaixado o arco que, equilibrado, era rolado facilmente.
A brincadeira de escorregar era sobre um pedaço de bainha de palma, no Morro do Sítio Batalha. Aos domingos era um sobe e desce de crianças no morro. A bainha da palma era catada na Praça da Matriz; era nosso skate (nome ainda não conhecido); tombos, pés furados pelos picos (espécie de espinho acúleo e rasteiro). Havia os mais corajosos que desciam rolando dentro de um pneu.
Seta (estilingue) era a nossa arma, feita com uma tira de borracha obtida de uma velha câmara de ar, um gancho roliço de madeira, um pedaço de couro e barbante. Para o gancho era escolhida uma madeira leitosa que depois de levada próximo ao fogo ficava “no ponto” (resistente). O couro era retirado de um sapato velho fora de uso. Cortava-se a língua dele e a ligava à borracha com um barbante. Esta borracha ligada era amarrada às extremidades do gancho. Com a seta às mãos, o menino saía em busca das capoeiras para caçar rolinhas, cericórias e outros pequenos passarinhos.
O peixe pequeno era pescado no cais da Prainha ou das Pedrinhas, usando como isca, no anzol, as baratinhas do mar ou as minhocas. O camarão, escondido nas algas verdes da Prainha, era catado à mão e colocado no samburá.
As Timbebas ofereciam, nas marés baixas, a quem quisesse e soubesse catar, suas ostras, que eram abundantes. A Prainha era um berçário de mariscos; ali, você colhia com fartura no burdigão. De posse do gereré e puçá, facilmente se conseguia, na Prainha e nas pontes nova e velha, encher o samburá de siris ou retirar nos mangues ou mariscos, como sururus. E nas areias da Barrinha, ameixa, canivetes etc.
Na enchente da maré passava-se rede de calão no Rio da Costa.
Com a maré baixa, a gente usava a seta para atirar pedras nas folhas do mangue que ao caírem faziam os caranguejos deixar suas locas servindo de alvo para novo tiro de seta (pelotada); depois era só recolher os crustáceos e repetir quantas vezes fosse necessário para obter uma boa quantidade deles.
Bons tempos aqueles: Prainha, Rio da Costa e Barrinha, a benção de Deus, que em nome do progresso, o homem destruiu!
Sempre havia uma briga para divertir. Todo garoto gosta de assistir a briga, mas há os provocadores. Quando começa uma discussão sempre aparece um mediador cheio de “boas intenções”. Naquela época ele mandava os brigões se aproximarem, e traçava dois riscos no chão e falava: mãe de um, mãe de outro. Cada um tenta pisar na mãe do outro e aí se atracavam a socos, pontapés e gravatas, indo ao chão até que alguém os separasse ou que um deles fugisse. Também havia o cabelo de um, cabelo do outro: o mediador ia à cabeça de um e do outro, trocando os cabelos e falando: “Você vai deixar seu cabelo lá na cabeça dele?”. Aí, o pau comia.
As frutas, quantas lembranças! Quando a gente via um caju, uma goiaba, uma manga ou uma jaca no pé, dava uma vontade danada de pegar. Pedir nem pensar, porque naquele tempo ninguém tinha tempo para as crianças e a gente tinha que dar um jeito. Se o dono dava sopa, a fruta era tirada; um sozinho não resolvia nada, tinha de haver uma corriola. Isso ocorria no bate papo da rodinha que se fazia depois de um joguinho de bola de gude ou pião, na contagem da "perda e ganho". Surgia o assunto: Vamos pegar a fruta em tal lugar?. Esse papo podia também ser assim: Que tal tomar banho em tal lugar ou furar o pano do circo tal à noite?. Tudo era motivo de acordo.
Nossa preferência eram as chácaras do Seu Idálio Santos, na Rua do Matadouro (Dom Jorge de Menezes), esquina com a Rua Luiza Grinalda; as mangas e cajás-mirins do doutor Cristiano, na esquina da Jorge de Menezes com Luciano das Neves; o jamelão na chácara dos Coelho (quarteirão do hoje Ginásio São José); pitombas e araçás una, no Morro do Convento; as jacas do Morro do Moreno; as goiabas do Ernesto Goggi, entre os terrenos do Gil Bernardes e o Beco do Celamim, era uma boa pedida. Na Cruz do Campo também existia a chácara do João Nava, que fornecia boas mangas.
Um dia meu primo, o Clóvis, e eu brincávamos no quintal de Chico Coelho, num balanço feito de cordas, sob um pé de jamelão. A gente se sentava e era balançado até atingir o ponto mais alto para então saltar e ver quem ia mais longe. Depois de satisfeitos, resolvemos colher algumas espigas de milho no terreno vizinho de Seu Florentino. Era fácil, bastava passar sob a cerca de arame farpado; para invadir o quintal, tirei o meu chapéu de palha e o pendurei no mourão da cerca, e Clóvis, para não rasgar a roupa tirou a camisa e pendurou no arame. Ele era menor que eu e deveria tirar algumas espigas e jogá-las para mim. Apanhamos as espigas e fomos saborear lá no morro do sítio Batalha, que ficava longe e ninguém nos veria. As espigas não estavam gostosas e perdemos nosso tempo, então, aproveitamos para um banho na maré. Já era um pouco tarde quando regressamos e fomos recebidos por nossas mães que nos tinham reservado uns bons conselhos... Sem prática, tínhamos deixado nossos pertences pendurados na cerca do proprietário do milharal.
As frutas do quintal dos outros são sempre as mais apetitosas e gostosas...
Ponga de bonde...
Existe uma diferença entre carona e ponga. Carona é uma viagem consentida e ponga era o prazer de burlar a vigilância do condutor de bonde ou outro qualquer veículo. O ponguista tomava ponga exclusivamente para perturbar o condutor do bonde que ia ao seu encontro pelo estribo e quando estava prestes a pegá-lo, ele saltava e corria atrás para nova ponga na parada seguinte. A ponga era feita no lado contrário ao condutor. Quando ele conseguia dar a volta ao bonde, pela traseira ou dianteira, o ponguista saltava. A ponga não era feita por falta de dinheiro para pagar a passagem, era feita quase sempre por diversão, o que às vezes causava bons tombos e gente ralada.
Ah, se os pais soubessem! Era uma surra daquelas.
O interessante é que não conheci ninguém que ao crescer guardasse mágoa dos pais ou se traumatizasse pelas surras. A lembrança, em vez de mágoa, provoca saudades.
A gente fugia de casa para tomar banho na maré atrás do morro do Sítio Batalha e, ao chegar em casa, mentia dizendo que estava brincando com os colegas. Era gozado, a gente em casa olhava o olho do gato e acreditava que se a pupila dele ele estivesse bem redonda, queria dizer que a maré estava cheia e se estreita a maré estava vazia (baixa). Lá, na margem do rio (maré), havia uma grande laje de pedra que adentrava a água e era o melhor lugar para mergulho, fora dos olhares dos adultos. Hoje, o local seria do outro lado onde está o Shopping Praia da Costa. Brincávamos de "boto e tainha". O boto saltava da laje e mergulhava no rio a fim de pegar uma tainha e a tainha presa passava a ser o próximo boto e assim por diante.
Costumava aparecer um engraçadinho que pegava as roupas da gente e dava alguns nós bem apertados. Quando saía do banho e ia pegar as roupas o banhista desmanchava os nós, auxiliado com os dentes, e recebia a gozação dos colegas perguntando se a rosca estava torrada. Às vezes, acontecia alguma maldade como a de urinarem sobre os nós das roupas.
Fora do horário das aulas o banho habitual, consentido pelos pais, era o banho na Prainha porque sempre tinha um adulto para vigiar o pequeno. O filho maior podia frequentar com os colegas o banho no Cais da Prainha e das Pedrinhas. Na Praia da Costa, só nas férias e aos domingos. Na volta, resolvia pular da ponte do Rio da Costa para tirar o sal.
Nos fins de semana era costume furar ondas para dar e levar caldos. Era difícil voltar para casa sem ser salgado. Salgar era jogar areia no corpo do banhista que desejava sair mais cedo para casa. Até hoje não entendo porque a gente fazia tudo para não ser salgado, pois se logo na ponte ia cair novamente na água!
Nas noites de sábados, sempre havia brincadeira de roda, chicote queimado, sou pobre, pobre de marré, marré de si. — Sou rica, rica de marré, marré de si. — O que é que você quer marré, marré de si. — O que é que você da, a ele/ a, de marré; marré de si... Eu dou (dizia a prenda) de marre, marré de si. — Ele/a disse que não agrada (ou se agrada) de marré, marré de si.
No verão, não havendo roda, as famílias se dirigiam à noite à Praia da Costa para ver a lua nascer e deixar os filhos brincarem na areia.
Aos domingos, ninguém deixava de ir à retreta no coreto da Praça da Matriz. Os casados se ajeitavam em bancos da praça ou nos degraus da escadaria da Igreja do Rosário, enquanto a moçada, em grupo de dois ou mais, se divertia contornando a Praça, indo os jovens num sentido e as mocinhas no outro. Havia o que chamavam de flerte e, se desse certo, o rapaz deixava os colegas e perguntava se a moça permitia que ele a acompanhasse. Se aceitasse, as colegas dela se separavam e seguiam adiante, enquanto o casal ia rodando a praça no mesmo sentido delas. Era costume, depois de algumas voltas à praça, o casal sair de mansinho e, sentado discretamente, conversar para ver se daria certo. Desse modo, aconteceram muitos e muitos casamentos em Vila Velha.
Ainda aos domingos, substituindo o almoço era realizado o ajantarado. Era obrigação sagrada, ao católico, assistir às missas aos domingos e dias de festas e guarda. Depois da missa a criançada estava livre para brincar com os amiguinhos na rua, jogando bola de borracha ou de meia (de calçar). Também podia colher frutas ou brincar de esconder ou balançar em uma árvore no quintal de alguma casa. Perigo não havia, a menos que alguém se machucasse na brincadeira.
Às quatorze horas, todos deviam estar bem banhados e prontos para irem à mesa, participar do ajantarado. Almoçar uma galinha a molho pardo, acrescida de uma polenta; uma macarronada com bastante queijo parmesão ralado; um molho de pimenta malagueta e limão branco cortado ao meio para temperar era o chique, porque galinha era o supérfluo da semana.
Mais simples era uma baita feijoada com tudo que era de direito, ou seja, miúdos do boi (bucho, livro, qualho, tripa), carne seca, linguiça, miúdo de porco (lombo, toucinho, pés, orelha, rabo, cara etc), farinha, couve picada e pimenta.
À noite, as sobras do ajantarado se transformavam na minestra; temperadas e misturadas numa só panela, e, depois de levada ao fogo era servida a todos.
Por fim...
Depois de todas as privações que passei, não as senti porque meus pais nunca deixaram transparecer suas dificuldades e o carinho e educação que nos deram foram suficientes para que; com alegria, aceitasse tudo com naturalidade; meus irmãos e eu podemos nos orgulhar da nossa família, cujos descendentes, seguindo a tradição, permanecem unidos por todos esses anos, mesmo quando os mais velhos são chamados para outra esfera, mais próxima de Deus.
Hoje guardo a saudade e me recordo do que dizia meu mestre do ginásio Salesiano:
“Saudade... doce pungir de um acerbo espinho”.
Padre Mario Ramos – SS.
Fonte: Memória do Menino... e de sua Vila Velha – Casa da Memória Instituto Histórico e Geográfico de Vila Velha-ES, 2014.
Autor: Edward Athayde D’ Alcântara, era carinhosamente conhecido por Seu Dedê
Compilação: Walter de Aguiar Filho, maio/2020
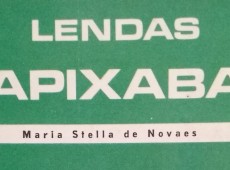



Essa é a versão mais próxima da realidade...
Ver ArtigoComo judiciosamente observou Funchal Garcia, a realidade vem sempre acabar “com o que existe de melhor na nossa vida: a fantasia”
Ver ArtigoUm edifício como o Palácio Anchieta devia apresentar-se cheio de lendas, com os fantasmas dos jesuítas passeando à meia-noite pelos corredores
Ver ArtigoEdifício Nicoletti. É um prédio que fica na Avenida Jerônimo Monteiro, em Vitória. Aparenta uma fachada de três andares mas na realidade tem apenas dois. O último é falso e ...
Ver ArtigoEra a firma Antenor Guimarães a que explorava, em geral, esse comércio de transporte aqui nesta santa terrinha
Ver Artigo