A Mata Virgem – Por Auguste François Biard (Parte IV)
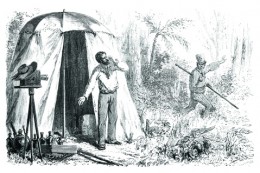 Auguste François Biard, em seu laboratório na selva
Auguste François Biard, em seu laboratório na selva
UMA VEZ que não me fora dado pintar índios, tratei de pintar paisagens. E, para tal, esperava com impaciência que o tempo melhorasse, tanto mais que desejava também realizar estudos sobre as orquídeas, essas plantas parasitas que eu contava até meu regresso à Europa. Era de meu intento, outrossim, colecionar mariscos terrestres. E nenhum desses propósitos me era dado pôr em prática. Todavia começara um segundo quadro, cujo assunto era um naturalista cercado de frutos de suas explorações. Logo que se verificavam uma trégua aos aguaceiros, corria a apanhar umas flores para me servirem de tema a uma tela, à falta de coisa mais interessante, e, certa tarde, de volta de um passeio, trazia comigo um bocado delas para me serem úteis no dia seguinte. Daquela vez me afastara bastante de casa e a chuva me surpreendera quando descia uma encosta, no momento transformada em cachoeira; a água batia-me pelo joelho, e, como de costume, estava descalço. Rapidamente a noite caiu, pois nesta região tropical não existe crepúsculo: a claridade do sol é de golpe vencida pela escuridão noturna. Pulando de pedra em pedra, para evitar os detritos de toda espécie que as águas carreavam, pisei em qualquer coisa escorregadia e mole. Era um desses enormes batráquios a que os índios chamam sapo-boi. Familiarizado já com certos encontros, atirei-lhe meu paletó para cobri-lo e, pondo-lhe um dos pés em cima, consegui agarrá-lo, apesar de sua resistência, pelas costas, dominando-lhe as pernas e evitando-lhe as dentadas. Ao voltar a casa, os índios, após o serviço, repousavam à porta, e o sapo constituiu um divertimento para todos eles, pois num paroxismo de cólera o animal, ao se ver solto no chão, avançou contra mim com a goela escancarada e ganindo como um cachorro. Quisera bem conservar perfeito esse interessante sapo, mas ignorava a maneira de matá-lo sem o deformar. Valeu-me, porém, o feitor que se achava presente e tomara parte nas gargalhadas provocadas pelos esgares do sapo. Esse homem encontrou um meio simples de dar fim à existência do bicho e foi matá-lo com uma pedrada na cabeça. Tive ímpetos de dar-lhe; o miserável havia dado a perder o meu sapo. Contudo, à força de mil cuidados, pude tornar a peça mais ou menos apresentável a minha coleção.
Cessara a chuva. Havia ainda um pouco de claridade e, tendo deixado o sapo protegido contra as formigas, fui observar o que estava fazendo um grupo de índios. Numa espécie de cercado onde eram guardados os bois, e para evitar que eles nas suas brigas se ferissem mutuamente, estavam cerrando-lhes os chifres. Fiquei admirado com a maneira de se efetuar esse trabalho, pois em vez de um serrote utilizavam um cordão. Tive ocasião de, posteriormente, assistir a cenas semelhantes e confesso que, se não a houvesse presenciado, teria duvidado da eficácia de tal operação contada por terceiros.
Tinham me falado, várias vezes, desde que chegara ao Brasil, de uma terrível cobra, a maior das trigonocéfalas, conhecida pelo nome de surucucu, e quando manifestei desejos de matar uma delas os cabelos de meu interlocutor ficaram em pé. “Que Deus o livre de um encontro desses, porque é morte certa. O bicho, além de um ferrão na boca, tem outro no rabo.” Repetia uma coisa em que todo mundo ali acreditava de boa-fé. Eu não duvidava de que essa cobra, mesmo sem o ferrão na cauda, era perigosa; que possuía um veneno terrível nos dentes e jamais fugia de ninguém, pois se fiava na virulência do tóxico destilado a menor dentada. Um dia, eu estava a tocaiar umas aves, metido até os joelhos numa touceira, quando descobri uma cabeça com dois olhos brilhantes virados para mim. Como legítimo habitante da Europa, não pude dominar o arrepio que experimentamos ao ver um réptil por menor que seja. Ademais sempre ouvira afirmar que a surucucu dava botes contra as pessoas a lhe passarem perto. Recuei precipitadamente para abrir entre nós uma conveniente distância e, quando me vi mais ou menos em segurança, comecei a refletir sobre se deveria ir embora ou avançar de novo. Esta última hipótese era uma aventura de que poderia resultar bem ou mal. Tinham me prevenido: ao se atacar essa serpente a sorte dependia da certeza do golpe. Se esse falhasse, o da cobra não falharia. Ainda hesitante, carreguei minha espingarda com dois tiros. A cabeça escondera-se, mais percebia-se-lhe o corpo através dos movimentos por entre as plantas onde se metera. Depois de ter verificado qual o caminho a tomar no caso de uma súbita retirada de defesa, atirei visando a cabeça da serpente que reaparecera. A dificuldade, porém, era a de constatar se a bala a atingira mesmo; poderia estar apenas ferida e reagir. Esperei um quarto de hora. Nada mais se mexia. Tornei a carregar a arma e com cautela fui me aproximando para conhecer de perto o inimigo com que me batera. Decididamente eu era um bravo; há tempos um manequim se vira vítima de meus socos e hoje eu matara um caranguejo! Mas que diabo estava esse caranguejo fazendo tão longe do rio e com um pedaço de pano amarrado a uma das patas? Sem demora achei explicação para o fenômeno: os índios haviam pescado na véspera um bocado de caranguejos e como de costume os amarraram pelas pernas; aquele certamente conseguira fugir e não soubera que caminho tomar ao se ver liberto.
Deparou-se comigo. Ninguém foge ao seu destino. Inútil é acrescentar! Não me mostrei apressado em contar este meu novo feito.
Há uns dois meses vinha tentando penetrar pela mata virgem que ainda não conhecia, mas não o pudera realizar até então devido aos charcos que se haviam formado com as chuvas copiosas. Um verdadeiro lago. Tornava-se necessário esperar que ele secasse aos poucos à medida que os aguaceiros cessassem de todo. O que eu tinha visto, em matéria de matas, até aquela data – exceto a paisagem do dia de minha chegada – não me parecia muito interessante. Faltava-lhe o quer que fosse de grandioso.
Afinal chegou o dia em que pude prosseguir nas minhas excursões; reuni provisões para a jornada. Meu livro de esboços, chumbo, pólvora, tudo em bom estado, e os frascos para guardar insetos. Uma sacola ia repleta do que me pudesse ser necessário. Pus-me a caminho ao nascer o sol. As águas tinham baixado sensivelmente e eu só as sentia até metade das coxas. Pela primeira vez, após 10 meses de minha partida de Paris, via realizado completamente meu sonho.
Ao iniciar este livro, fiz uma comparação entre a coragem que é mister ter para deixar os entes que nos são queridos e a que se precisa possuir diante dos riscos prováveis em certas viagens; deste modo, eu me senti bem mais isolado nas ruas de Paris do que no meio dessas matas sem saídas, sem caminhos traçados, onde a cada passo poderia me defrontar com um mau encontro, onde poderia me perder para sempre. Não me é nada fácil exprimir as emoções experimentadas nessa ocasião: era um misto de admiração, de espanto, talvez de tristeza. Como me reconhecia pequeno em face dessas árvores gigantescas que têm quase a idade do mundo! Assaltava-me uma ânsia de desenhar tudo aquilo e não me achava calmo bastante para iniciar a pintura. E ai de mim! Forçoso é confessá-lo: os mosquitos me atacavam por todos os lados porque eles reinam despoticamente dentro dessas florestas em que os raios do sol mal penetram, favorecendo, assim, uma umidade perpétua.
Por ali não passa nenhuma criatura humana. Torna-se preciso abrir caminho a golpes de machado. Se se pára um instante, por todos os lados se é assaltado. Deste primeiro dia de minhas grandes excursões pelas florestas do novo mundo, guardarei eternamente recordações; como que ouço ainda o alarido dos papagaios trepados nos mais altos ramos das árvores, bem como o canto dos tucanos; apercebo-me do rastejar de um lindo réptil de um vermelho vivo, chamado cobra-coral, e que com seu veneno mata com a virulência de uma víbora e de uma jararaca. A cortar cipós, ganhando terreno não pé-a-pé, mas polegada-a-polegada, alcancei uma espécie de clareira formada por um grupo de árvores derrubadas talvez pelo raio. O sol entrava na mata. Insetos esvoaçavam em torno de enormes flores que se vêem a cada passo e delas fiz uma rica colheita apesar dos mosquitos. O mesmo não me aconteceu, porém, com um lindo pássaro que ia visar com a espingarda, certo de reunir à minha coleção, mas me escapou por haver um danado de mosquito tentado me entrar num olho no momento exato do tiro.
Eu não tomara as precauções indispensáveis, justamente por causa da defesa constante contra os insetos, para reconhecer a direção que ia seguindo dentro da mata, e, por isso, de repente, senti-me perdido e tive verdadeiro aperto no coração. Perder-se em sítios semelhantes é correr mil probabilidades de morte. Mas, felizmente, pude, com algum esforço de orientação, encontrar não somente o ponto de partida para penetrar na clareira a que aludi, como, também, alguns passos adiante, uma vereda meio encoberta pela vegetação. E com o auxílio da luz solar consegui orientar-me de novo. Tinha tirado o dia para caminhar a esmo. Armara-me com uma boa faca que de um lado cortava e de outro servia de serra; a espingarda dispunha de balas ao alcance das mãos para a possível hipótese de um mau encontro, porque, se na América não existem tigres nem leões, os jaguares, os ursos e as onças são numerosos. Por muito tempo andei escoltado pelos meus inimigos mosquitos, sem poder, por sua causa, esboçar o menor desenho. Só se pode formar idéia de quanto essa luta com os mosquitos inutiliza qualquer atividade experimentando-a. Alcancei, numa descida, uma espécie de queda d’água, onde pude matar a sede e lavar os pés e as mãos. Essa água a correr à sombra das árvores era morna; vim a saber depois constituía essa queda d’água um limite de certas terras concedidas pelo governo a uma pequena tribo de índios, os puris. Encontrava-me, portanto, dentro da sua propriedade e divisei plantações de mamonas, laranjeiras, limoeiros e mandiocais.
Consintam faça um parêntese a fim de explicar o que seja essa raiz da mandioca e como a aproveitam na alimentação, substituindo, em toda a América, o pão, não somente nas classes pobres, como nas mais favorecidas pela fortuna. Tem essa raiz grande semelhança com a beterraba; mergulham-na por vários dias n’água e, após, fazem-na cozinhar em um forno que, entre os indígenas, é apenas uma vasilha de ferro em forma de prato; ao sair do forno pilam-na numa espécie de almofariz fabricado a maior parte das vezes de um tronco de árvore, e quando já se achava a mandioca bastante pulverizada levam-na outra vez ao forno transformada numa farinha grosseira. Comem geralmente essa farinha seca, porém os de apetite mais requintado misturam-na à banha de porco. Faz-se também com a mandioca goma e tapioca.
Quando surgi em frente das habitações dos índios, mulheres e meninos fugiram de mim apressadamente; os homens, mais afoitos, esperaram que me aproximasse, embora espantados de me verem pegar insetos, o que para eles constituía uma esquisitice. Não descobri nenhum sinal de hostilidade por parte dos índios, ao contrário, ao notarem que eu, aproveitando-me da trégua que me davam os mosquitos, ia começar meu almoço, chupando umas laranjas que estavam caídas no chão, dois dos selvagens vieram ao meu encontro com umas varas e tiraram dos pés uma meia dúzia de frutas das mais bonitas, oferecendo-me com o melhor sorriso deste mundo. A refeição que eu ia fazer tinha sido bem ganha. Sentei-me debaixo das laranjeiras e os meus dois novos amigos ousaram se avizinhar mais de mim, o que não o haviam feito tanto, mesmo quando me deram as laranjas. Minha faca de caçador, meus frascos cheios de insetos, minha arma, intrigavam um pouco esses homens.
Era já tarde; o sol percorrera dois terços de seu caminho e eu tinha ainda um longo trajeto a vencer no regresso a casa. Reentrei na mata onde, apesar das veredas e dos pontos de referência que eu ali deixara para orientação, tive trabalho em reconhecer meu caminho. Matei umas aves e um sagüi. Enquanto ia andando, procurava notar o que houvesse por ali de mais interessante para me servir de assunto aos quadros que pretendia pintar no dia seguinte.
Soube, ao chegar a casa, que um negro a quem eu dera um casaco de borracha, sem outro motivo, fugira; o que causara enorme desapontamento ao Sr. X. Não podia se consolar com esse prejuízo, tanto maior quando o escravo, de magro e doente que era ao chegar ali, engordara e se tornara robusto. Essa fuga importava numa perda de alguns mil francos. O Sr. X escreveu várias cartas de aviso e enviou vários servidores à procura do negro fujão tão ingrato para com o dono que o engordara daquela maneira. Com meus botões eu desejava que todas as buscas resultassem inúteis e já pensava que tal tivesse acontecido, quando um dia o negro reaparece trazido por um índio e um mulato. O pobre do fugitivo vinha algemado e não ignorava haver incorrido em pena rigorosa: de cabeça baixa, as lágrimas escorrendo pelo rosto e pelas mãos cruzadas ao peito. Aguardei com ansiedade o que iam fazer com o infeliz, disposto a intervir em seu favor se o castigo fosse severo demais. Felizmente, porém, o culpado recorreu a tempo a um costume que permite ao senhor ser indulgente sem quebra da autoridade: ele se confiou à clemência do feitor; este, tornando-se seu fiador, interessou-se pela causa do afilhado, que foi apenas punido com uns bolos de palmatória, uma espécie de férula destinada a castigos domésticos. Na pequena habitação a que me acolhera, cada dia dispunha de uma novidade para quebrar a monotonia de minha vida interior; quase sempre eram os animais que me ofereciam, representando o papel mais saliente. Ora um rato que roía um sapato, ora um porco que entornara a panela, ora um cachorro que comera o jantar, quando não fossem galinhas a trepar nos móveis e quebrar objetos mais frágeis ou gatos de várias gerações e de ambos os sexos que, após terem cometido delitos de todas as qualidades, durante o dia, tomavam as noites para levar a efeito um barulho de todos os diabos pelos telhados. Perto do meu quarto, três bacurinhos costumavam vir grunhir, o que me era altamente desagradável, sobretudo quando se instalavam na minha porta. Eu me armara de uma espécie de ferrão com que os repelia de minha vizinhança, mas, ao fazê-lo, os porcos corriam, e, por sua vez, espantavam os bois que também se punham em debandada. Com barulho os cachorros se punham a ladrar em coro e era então um concertante de mugidos, de grunhidos e de latidos. O Sr. X., supondo um assalto, punha prudentemente a cabeça à janela e eu, como não me envaidecesse aparecer como autor dessa algazarra, voltava logo a minha cama sem dar nenhuma demonstração de incômodo. Limitava-me apenas a no outro dia ouvir com atenção as narrativas dos acontecimentos. Os bois estavam votados a constituir um papel de relevo nas minhas impressões de viagem. Certa vez, um desses bois recém-adquiridos, e que ia partir para um curral do interior, comeu erva venenosa e morreu dentro de poucas horas. Os índios trouxeram-no numa canoa e, desembarcando, perto de casa, cortaram-lhe a cabeça, atirando-a numa capoeira; depois esfolaram o corpo. O Sr. X estava ausente, mas a mulata, que governava a casa, mandou meter num barril os pedaços de carne do animal. Em menos de dois dias decorridos os vermes tinham tomado conta de tudo; todavia, passada uma semana, ainda se comia desse boi.
Como se tratava de fazer economias e como meu hospedeiro falava sempre da carestia dos víveres, a mulata evitara me dizer de que morrera o tal boi. Durante 48 horas todos os outros bois levaram a urrar em torno do lugar onde haviam enterrado a cabeça do companheiro e, sem demora, os jaguares vieram também fazer coro com eles. Dali a pouco apareceram centenas de corvos pretos chamados aqui urubus. E tudo isso fazia um estranho constraste com esta rica e brilhante natureza. Debaixo de umas laranjeiras eu visava com minha espingarda essas feiosas aves a se disputarem os restos de um boi que fizera as delícias de meu paladar sem adivinhar de que modo ele morrera.
Todavia, ao cabo de três dias, apesar dos temperos, senti necessidade de mudar de alimentação. Desnecessário seria acrescentar que o dono da casa, ao voltar de sua viagem, não provou daquela carne de boi, prato esse destinado apenas aos hóspedes.
Pensei não ter mais ocasião de me envolver em casos de bois, vivos ou mortos que fossem, mas me enganava porque, se um se perdera, outro fora comprado em Santa Cruz. No dia em que deviam tê-lo conduzido para entrega ao novo dono, chegaram somente os filhos do vendedor, com o propósito de devolverem o dinheiro já recebido e trazendo as desculpas do pai por ter negociado o animal com um terceiro indivíduo, embora por motivo contrário a sua vontade. O meu hospitaleiro amigo ficou desapontado porque o vendedor do boi era uma espécie de pesadelo para ele; no seu conceito tratava-se de um homem sem fé nem lei. Como nesse caso não havia razões para julgar de modo contrário, esqueci as minhas queixas e animei o Sr. X. a não se deixar vencer nessa questão, reclamando energicamente a entrega do boi. Minha atitude tinha os seus méritos, pois, a muito custo, com os pés feridos, pude calçar-me, e, levando nossas pistolas, partimos. Em meio do caminho uns cães fizeram medo a meu cavalo e ele se pôs em pé, recuando, até bater num velho tronco e cair de lado. Percebi o perigo, mas, felizmente, já estivera na Lapônia! Parecerá esquisito que eu me rejubile de já ter andado na Lapônia a propósito de um cavalo que se assusta numa mata brasileira e obriga o cavaleiro a se precaver para não ficar debaixo dele. E, no entanto, nada mais natural essa evocação. Certa vez o meu cavalo caiu numa turfeira e, debatendo-se, deu comigo no chão: um dos seus pés prendeu minha mão esquerda e íamos ambos desaparecer quando vieram em nosso socorro, e, com o auxílio de varas e de um mastro que servia para armar minha barraca, puderam nos tirar do buraco embora em lastimável estado. Desde esse dia, receoso de ser enterrado vivo, ao menor passo falso dado por um cavalo que eu montasse, levantava rapidamente a perna e, fosse dentro d’água, num espinheiro ou em cima de pedras, escorregava suavemente tal e qual um saco de trigo mal amarrado. E esse gesto se renovava cerca de quatrocentas vezes num raio de cem léguas.
Havia uns 10 dias que eu errava assim sobre a terra firme quando cheguei a um lugar onde Regnard disse em belos versos latinos que o mundo se acabava. Dão-se a esses enganos a denominação de licença poética; confesso a minha incompetência e como costumo fazer nos casos de que não entendo prefiro abster-me. Contudo, meus estudos lapônios a respeito dos meios de não cair dos cavalos não me foram inúteis no Brasil. No caso presente dei um salto tão brusco que, em vez de ser o animal que me causasse mal, eu é que lhe fiz uma contusão no estômago, sem aludir, é claro, a uma torcidela no pé já magoado que não pude evitar. Mas, apesar disso, tornei a montar.
Fomos, primeiro, à presença do mulato a fim de sabermos direito como e por que ele, depois de ter recebido o dinheiro do boi, vendera-o a um outro. O pobre homem estava embaraçado de verdade para se justificar; pareceu-me que o outro comprador obtivera anteriormente uma promessa de venda. Tudo se achava, porém, muito complicado. Não havia outro jeito senão procurar o novo proprietário do animal e conforme sua resposta quebrar a cabeça do inocente boi, dispostos também a fazer o mesmo com o seu dono, caso reagisse. Ao nos aproximarmos da casa desse indivíduo, o Sr. X. foi desagradavelmente surpreendido com a presença de todos os criados pretos e índios formados em frente da porta, com o patrão ao lado, de braços cruzados, como à espera dos acontecimentos. O Sr. X. desceu do cavalo; eu não pude imitá-lo. Não poderia descrever os insultos que o meu hospitaleiro amigo teve de ouvir: ladrão, caluniador, homem de maus bofes, etc. Achei conveniente intervir e fi-lo estendendo majestosamente o braço e pronunciando um discurso que não teria ficado mal a Sancho Pança:
“Há alguns minutos que ouço atentamente as acusações que vêm de ser dirigidas contra o Sr. X. Aliás, acusações semelhantes tenho ouvido do meu hospedeiro contra quem agora o ataca. O que se passa neste instante me convence de que existe entre ambos um mal entendido proveniente de mexericos e maledicências. É preciso dar um fim a esse estado de coisas. Apertem-se as mãos, Senhores, e prometam que não levarão mais em conta intrigas que façam de um a outro. E quanto ao boi o melhor é matá-lo; salgá-lo e dividi-lo.”
Meu discurso foi traduzido e aplaudiram-no vivamente. O homem branco falara bem.
Voltara o bom tempo e o sol se tornara mais suave; todas as manhãs a viração era agradável. Fui por várias vezes até à mata pintar algumas paisagens. Familiarizava-me com a floresta sem deixar de admirá-la. Escolhera uns troncos de árvores e umas plantas para copiá-los. Levava comigo o almoço e demorava dentro daquela deliciosa sombra, embora sempre hostilizado pelos mosquitos e pelas formigas, contra as quais protegia minha comida. Conseguira aumentar bastante a coleção de orquídeas; certa vez colhi tantas que o seu peso me deu dores nas costas. Todos os dias jurava a mim próprio não voltar à mata tanto os insetos me maltratavam, mas ao ouvir os cantos dos galos me levantava e para lá me botava. Ao regresso era-me costume passar uma hora perto do regato mais encantador deste mundo: uma areia finíssima, árvores a formarem uma cúpula e flores penduradas por todos os lados. Que admiráveis tardes as da minha volta da floresta, com o sol em declínio, e quando, depois de um banho delicioso, podia entregar-me à caça aos insetos! Impossibilitado de pintar os índios, ou de ensaiar umas fotografias, porque não dispunha de quem carregasse minha “bagagem”, me contentava em apanhar umas paisagens. E, ao me sentir cansado do continuado labor cotidiano, sentava-me na relva e desenhava algumas folhas, cuja variedade era infinita. Para comprovar a veracidade de meu lápis colhia muitas dessas folhas e guardava-as, medida que de muito me valeu, pois já na França elas me auxiliaram bastante ao querer pintar uma mata-virgem.
Aproveitando-se do bom tempo que fazia, o meu hospedeiro resolvera aumentar sua casa. Era um projeto muito natural, tanto mais quando essas obras só poderiam trazer incômodos para mim, uma vez que, para se prolongar o telhado do prédio antigo a ponto de se unir ao da nova construção, tornava-se preciso descobrir o meu quarto. Mas substituíram as telhas por um couro de boi que não evitava a investida do vento, da chuva e, o que talvez fosse pior, de toda sorte de mosquitos atraídos pelo candeeiro do qual, diga-se entre parênteses, me valia sobriamente para não me tornar indiscreto. Sendo hábito levantar-me da cama cedinho, costumava me deitar à noite também cedo, e se às vezes me demorava em ir para cama era por estar ocupado numa operação bem dolorosa. Existe, no Brasil, um insetozinho, quase invisível, o pulex penetrans ou bicho do pé, um danadozinho de animal que se introduz debaixo das unhas ou em qualquer outra parte dos pés; uma vez ali aninhado, por vezes profundamente, faz a sua postura e os milhões de ovos vão crescendo dentro de um saco. Se consentirmos nessa evolução, surgem inflamações dolorosas e às vezes com funestas conseqüências. Conta-se de um cientista que quis transportar in loco esses insetos, para estudá-los na Europa, porém, veio a morrer durante a viagem. Conforme já fiz sentir, meu quarto era pouco asseado e, por isso, todas as noites, revistava os pés, armado de um canivete e de um alfinete, para dar caça aos “bichos” que ali se houvessem instalado, antes de se desenvolverem; o trabalho requer grande cuidado pois não se deve romper o saco, sob pena de os ovos permanecerem na carne e continuarem a nos afligir. Certa vez tive preguiça de realizar minha caçada habitual e no dia seguinte encontrei onze ninhos no polegar do pé direito. É fácil de se avaliar que esses buracos de onde se extraem os sacos se prestam à invasão de novas pulgas.
Enquanto eu era dissecado pela base, as outras famílias de insetos tomavam conta da minha pessoa pelo resto do corpo, atraídas pela luz do meu candeeiro. E quase me punham doido. Acima das ancas tinha sinais avermelhados da mordedura de um outro bichinho, também quase imperceptível, a que chamam de maruim, e, também, era freqüente outra espécie de pulga, “carrapato”, vivendo à custa do meu sangue, engordando à vontade. Ainda não falei dos bichos de galinha que sabiam ser igualmente bastante incômodos. Além das minhas feridas nos pés, fiquei com o nariz e os olhos inflamados das picadas dos mosquitos. Um dia, tendo bolido sem querer numa casa de abelhas, as suas moradoras se irritaram e me atacaram com toda veemência, visando sobretudo minha cabeça, cujo cabelo mandara raspar há dias.
Aos animais malfazejos é mister acrescentar os que me visitavam inofensivamente. Milhares de coleópteros que se lançavam contra tudo, perfurando com as mandíbulas a madeira de tal forma que um dia furaram um barril e derramaram o vinho que continha. Eles assaltavam em massa os objetos brilhantes e, como a luz me servia para a caçada aos bichos de pé, era preciso combatê-los agarrando-os aos punhados e atirando-os fora do quarto. Também os besouros e mariposas me visitavam aos enxames. Devo citar uma coisa curiosa: os caranguejos, os horríveis caranguejos, com sua carcaça e com suas patas, cobriam as paredes de meu aposento, ao cair da noite. Em um dia eu pintara uma flor vermelha e um pássaro cujo papo era também encarnado, e na manhã seguinte notei que essa cor desaparecera na tela. Restaurei a pintura e o fato se reproduziu. Não sabendo a que atribuir esse misterioso desaparecimento, pendurei o quadro, apaguei o candeeiro, e pus-me de espreita; a um pequeno ruído, acendi de golpe o candeeiro e descobri os caranguejos a atacar minha pintura. E eu que já lhes votava um ódio de morte...
Como não sou químico, não pude compreender porque esse animal gostava somente do vermelho. Quando eu terminava minha operação nos pés, e apagava a luz, de ordinário os meus visitantes iam embora, exceto os mosquitos. Mas, depois de terem coberto meu quarto com o couro de boi, os ratos deram também em me despertar roendo aquela espécie de coberta; eu fazia barulho e eles desertavam, voltando, porém, logo que o silêncio se restabelecia. Tive uma idéia feliz: como já fizera com os porcos, vali-me da bengala ferrada de paisagista para combater os ratos. Quando os supunha entregues ao seu banquete em cima do telhado, levantava de brusco o couro de boi com a bengala e atirava aos ares todos os convivas. Era bem necessário encontrar uma diversão quando não se pode dormir direito e com esse duplo ataque aos porcos e aos ratos eu me furtava também às picadas dos mosquitos.
Uma manhã, um tanto preguiçoso para me levantar, porque chovesse, permanecia estirado no colchão, meio acordado, meio dormindo, quando a vista de uma coisa horrível me fez dar um pulo e interromper o dolce farniente a que raramente me entrego: descobrira perto de mim uma aranha de 10 a 12 polegadas de tamanho, toda cabeluda e armada de dois ferrões que provocavam febre durante vários dias; esse animal ataca e come pequenas aves. Não obstante minha repugnância, reuni a aranha à minha coleção. Nessa época já conhecera também o escorpião.
Certa vez eu estava pintando um tronco de árvore coberto por trepadeiras que o envolviam como os arcos de um tonel. Enquanto trabalhava, não deixava de prestar atenção a insetos lezardos que passavam perto de mim, sempre na mesma direção; ouvia, mais distantes, gritos de aves, alguns deles a se tornarem mais próximos. Pensei a princípio se tratasse de uma tempestade prestes a se desencadear e como tinha de percorrer bem uma légua antes de chegar a casa tratei de meu regresso, quando de súbito me vi coberto da cabeça aos pés por um exército de formigas. Mal tive tempo de me levantar, derramando tudo quanto tinha dentro de minha caixa de tintas, e fugi a toda velocidade, procurando me ver livre das formigas. E nem pensei em ir buscar os objetos deixados à toa. Numa extensão de dez metros mais ou menos de largura, unidas de tal modo que não se via um palmo do terreno, miríades de formigas caminhavam sem se importar com os obstáculos, a transporem parasitas, plantas, árvores das mais elevadas. Pássaros de todas as espécies acompanhavam o cortejo e de quando em quando se cevavam nele à vontade. Senti não estar armado, pois deixara a espingarda na minha fuga, e não pude ir buscá-la, pois durante 3 horas não tive um ponto limpo para botar os pés. Somente muito tempo depois foram se formando entre aquele tapete ambulante umas veredas dentro das quais pude ir saltando, com o maior cuidado para não me aproximar das formigas que de novo me assaltariam. Nem assim evitei algumas mordeduras ao pegar na espingarda. Aos pulos, ainda, pus-me afinal longe daqueles inimigos. Consegui abater algumas aves, porém ao terminar o desfile das formigas verifiquei que a minha caça tinha sido inteiramente destruída: só ficaram os esqueletos. Ao chegar a casa, verifiquei haver ali também passado o formigueiro em marcha e em destruição. Felizmente não gostaram das aves embalsamadas; o sabão arsenical não lhes tentara o paladar. Salvaram-se assim minhas coleções. Mais infeliz fora eu, que apresentava pelo corpo vários sinais de dentadas a me exacerbarem o sistema nervoso. À noite, sem poder dormir, armei-me com o cacete e dispus-me a exterminar o que me incomodasse. De repente ouvi ao longe rumor um tanto confuso, como se alguém batesse num tambor cuja pele estivesse molhada. Que história seria essa? Pela manhã vim a saber que se tratava da festa de São Benedito, divindade de grande devoção dos índios. Eles faziam preparativos para essa festa uns seis meses antes e guardavam dela uma recordação pelos outros seis meses do ano. Desde o momento em que esse tambor começa a ser tocado, não pára mais, nem de noite nem de dia. Não deixei de ir me divertir um pouco nessa festa que se realizava numa povoação chamada, se não me engano, destacamento. O Sr. X. fez-me companhia. Em todos os tetos em que entrávamos bebia-se “câouêba” e cachaça, e a pretexto de se cantar, berrava-se. Mantinham-se os homens sentados tendo entre as pernas um tambor primitivo fabricado com pequeno tronco de árvore oco coberto por um pedaço de couro de boi; outros homens esfregavam uns pauzinhos num instrumento feito de bambu todo entalhado. Ao som desse charivari, mulheres, mesmo velhas, dançavam devotamente um desgracioso cancã que mereceria certamente a reprovação de nossos virtuosos agentes de polícia. Depois de se ter dançado bem e melhor bebido e urrado, numa casa, ia-se fazer o mesmo numa outra habitação. Numa delas tive a coragem de beber numa espécie de cabaço a tal “câouêba”, o que fiz, aliás, para despertar simpatias e conseguir depois me permitissem uns retratos. Não ignorava como se prepara essa bebida: sabia que as mulheres idosas (são elas sempre as encarregadas das funções mais importantes) mastigam raízes de mandiocas antes de deitá-las numa vasilha; cada uma de sua vez cuspia nessa panela o conteúdo das suas bocas e deixavam a massa fermentar. Como se vê, em mim, o amor à arte sobrelevara o instinto da repugnância. Dessa casa passei a outra e nessa não existiam representantes do “belo sexo”; apenas um índio cantava ao som de um violão uma modinha suave e monótona que tinha encanto particular. Sentei-me ao seu lado e fiquei surpreso de ver que me tornei motivo dos improvisos desse cantador. O seu estribilho era este:
Su Bia ao sertão guerea
Matar passarinhos
Su Bia ao sertão
E também souroucoucou
M. Biard dans la montagne
Désire tuer petits oiseaux,
M. Biard dans la montagne
Cherche aussi serpents dangereux
Ficaram todos admirados de me ver rir a bandeiras despregadas dessa cantiga que me homenageava, embora com suas pequenas imperfeições. Afinal chegara o momento ansiosamente esperado: surgiram duas figuras importantes. A primeira era um índio alto, revestido de uma túnica branca a lembrar um pouco o roquete de um coroinha e tendo na mão um guarda-chuva vermelho ornado de flores amarelas; na outra mão trazia uma bandeja que também se pendurava de um velho chalé de franjas amarrado à cintura como um talabarte. Dentro da bandeja vinha São Benedito, que, não sei por que, é preto, todo cercado de flores. Ali se colocam as ofertas feitas ao santo. A segunda personagem, digna de fazer parte do exército do imperador Soulouque, cingira uma farda azul celeste toda enfeitada de chita em xadrez encarnado; usava dragonas como as do general La Fayette, e na cabeça um chapéu de pontas, fenomenal no tamanho e encimado por um penacho que já fora verde. Como emblema ostentava uma rodela com três cerejas bem vermelhas. Esta última figura é o comandante. Para se merecer essa graduação torna-se indispensável possuir umas pernas de resistência superior à de todas as outras da Terra, pois durante as cerimônias o capitão não cessa de dançar. Ele precede ao cortejo, sempre num passo de dança, com uma baliza nas mãos. A princípio, pensei tratar-se de um círio. Atrás dele vai o homem de guarda-sol vermelho, levando o santo; depois os músicos em duas fileiras, e em torno da imagem as velhas devotas no seu cancã. Meio escondidas nos postigos ou nas portas se surpreendem jovens e bonitas cabeças. Diante de cada pessoa convidada para o banquete, o cortejo parava; o capitão entrava, a dançar, e dava uma volta pelo interior da habitação. Dali se passava a outra casa e, nesse passo, chegaram à igreja toda enfeitada com palmeiras; a iluminação era feita por meio de cabaças cheias de azeite. Fora preparada a mesa defronte do altar; por precaução estenderam-lhe por cima uns panos sem dúvida com receio da in - vestida das aranhas e de outros bichos malfeitores. Trancaram São Benedito na caixa, após terem retirado as ofertas, e nós então voltamos.
Fonte: Dois anos no Brasil, Auguste François Biard, 1862
Compilação: Walter de Aguiar Filho, outubro/2016
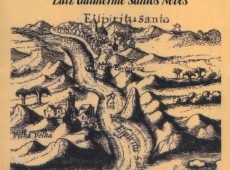



Vários assuntos me prenderam no Rio de Janeiro mais de um mês. Não encontrei, porém, mais, ali, nenhum motivo de distração: nem passeios que tentei fazer pela cidade nem estudos de costumes pelos seus arredores
Ver ArtigoImensos mangues, cujas raízes desenham arcos, avançando pela água salgada, a perder de vista como uma extraordinária inundação
Ver ArtigoEu estava em presença, pela primeira vez, de uma terrível surucucu, serpente venenosíssima
Ver ArtigoAuguste François Biard em seu livro DOIS ANOS NO BRASIL dedicou dois capítulos a Província do ES que estão aqui no site divididos em várias partes
Ver ArtigoOs que subiam os degraus exteriores para entrar na igreja tinham, do lado oposto, de descer outra escadaria, para entrar então no verdadeiro templo
Ver ArtigoAuguste François Biard em seu livro DOIS ANOS NO BRASIL dedicou dois capítulos a Província do ES que estão aqui no site divididos em várias partes
Ver Artigo