De Volta a Santa Cruz – Por Auguste François Biard ( Parte VI)

Deveria pensar no regresso. Iam-me faltando roupas. Mas, antes de partir, tomara comigo mesmo o compromisso de pintar um panorama a fim de possuir uma visão de conjunto de uma mata virgem. Outrora estivera num terraço de Alexandria com o propósito de copiar tudo quanto me rodeasse. De um lado o mar, a ponta do Serralho, os enormes edifícios do porto; do outro, o forte Napoleão, a coluna chamada Pompeu, as agulhas de Cleópatra, os vestígios da Biblioteca e ao fundo o deserto de Barea e a ponta do Farol. A umidade do mar estragou-me esse primeiro panorama.
Tempos depois, quando o navio Lilloise, do comando do capitão Blosseville, perdeu-se entre os gelos, o governo mandou em socorro aos mares polares a corveta La Recherche e eu fiz parte, espontaneamente, dessa expedição. Atingimos 80º de latitude N. no Spitzberg. Passei 15 dias dentro da neve; quase perdi os dedos com o frio, porém concluí o panorama da baía de Madalena, ao nordeste da ilha. Ainda passados alguns anos encomendaram-me um trabalho para ornar uma das salas do Jardim das Plantas. Reunira em torno desse panorama tudo quanto pudesse interessar na moldura desse cenário habitado apenas por ursos brancos, raposas azuis, renas e morsos. Já uma parte dessa sala estava terminada quando me vi interrompido nesse trabalho tão interessante para mim pela hostilidade de quem dirigia os assuntos concernentes às belas-artes. Para realizar o terceiro panorama devia me sobrepor a outros obstáculos: os mosquitos. Devo referir-me a eles ainda uma vez pois se achavam sempre em cena. No sítio que escolhera para trabalhar era-me impossível evitá-los: ou suportá-los ou desistir. Resignei-me, embora no primeiro dia quase não pudesse fazer nada. No outro dia Manuel acendeu uma fogueira que afugentou um tanto os insetos; depois voltaram à carga ainda mais terríveis e não obstante os esforços do criado atacavam-me os olhos, o nariz, o corpo todo, obrigando-me a fumar um cigarro cujo cheiro e fumaça me causavam nojo. Na manhã seguinte armei um mosquiteiro com quatro paus e meti-me debaixo dele como o fazia no Rio na minha cama do palácio. Era o único jeito a dar. Tinha, entretanto, pequeno inconveniente: o pano do mosquiteiro era verde e tudo quanto eu pintava saía dessa cor. Contudo, sentado nessa espécie de barraca, estava protegido contra as picadas, via e ouvia, com certo ar de desafio, milhares de maruins investirem contra meu fraco abrigo e sitiá-lo em vão. Posto que menores do que os mosquitos comuns, eles são mais perigosos pois deixam na pele um líquido venenoso.
Pude trabalhar em segurança alguns instantes; de repente uma alfinetada na testa. Matei o agressor após longa peleja. Retomei a paleta. Outra mordidela, outro combate. Sem querer fiz uma brecha no mosquiteiro e deu-se imediatamente uma invasão. Era demais! Atirei tudo ao chão: mosquiteiro, pincéis, caixa de tintas, o diabo. Quis puxar os cabelos com desespero, mas eram tão curtos! Se Manuel estivesse ali, ter-lhe-ia batido. Rasguei o mosquiteiro e quebrei os paus de suporte. Ao regressar a casa, mais calmo, convicto de que a cólera nada constrói, tentei outros recursos. Pensei em usar uma máscara de esgrima e quis fabricar uma com arame; não deu certo e voltei-me para outro processo de defesa, talvez o melhor. Adaptei ao meu chapéu de abas largas um pedaço do pano do mosquiteiro à guisa de véu de noiva. Caía-me sobre os ombros protegendo-me assim o pescoço. No lugar dos olhos abrira dois buracos sobre os quais colocava os óculos. Duas velhas saias envolviam-me os pés. A manhã seguinte ser-me-ia proveitosa, e ao clarear parti satisfeito. De fato tudo decorreu maravilhosamente. Desta vez poderia desafiar os adversários e pintar à vontade. De súbito, os óculos voaram; eu lhes havia dado uma pancada que felizmente não lhe quebrou os vidros. Um maruim se metera entre os óculos e o meu olho esquerdo. Estava definitivamente vencido. Desisti das armas defensivas e aceitei o martírio. Ai de mim! Embora sem nenhuma esperança de ser canonizado, suportei durante três semanas sofrimentos de que nem quero me lembrar, nem tampouco referir, pois não seria compreendido. Ao cabo desse tempo mal se me viam os olhos de tão inchado o rosto, mas, como na vizinhança do pólo norte, entre os ursos brancos, acabara o panorama. Compunha-se de seis partes e, como de costume, pintara-o com a maior honestidade, copiando servilmente árvores, plantas, flores, tal como procedera com as geleiras e os rochedos negros e agudos do Spitzberg. Considerei esse panorama minha obra-capital. Lograra atingir meu principal objetivo e, agora, depois de mais umas percorridas pelas matas, iria deixar estes sítios que, apesar dos infinitos incômodos a oferecerem e não menos riscos que se correm, nos levam a perder a lembrança do passado e nos contagiam com essa doença a que o capitão Mayne-Reid, no seu romance Lês Chasseurs de chevelures, dá o nome de febre do campo. Vivi como um selvagem, alimentando-me quase sempre do que caçava, sem obrigações a cumprir, sem direção certa, mas também sem afetos. Contava somente comigo mesmo. Prodigalizava-me essa vida um grande encanto e quase me acostumara a ela como se outra diferente nunca houvera levado. Por isso não podia conter certa pena de partir. Consolova-me apenas a convicção de ter aproveitado bem o meu tempo.
Caçava enquanto minhas telas secavam; passei os dias inteiros a percorrer as matas que cercavam a casa abandonada. Uma noite, ao ouvir certo rumor, desci da rede e senti uma picada no pé. Acendi a candeia e tive a surpresa de ver quase um litro de feijões reservados para meu jantar do dia seguinte, a caminhar pelo chão, como se tivessem pés. Era uma tribo de formigas, das cabeças grandes, que invadira minha morada e carregava o resto de minha despensa. Pode-se daí avaliar bem o tamanho dessas formigas. Afugentei-as atirando-lhes água e voltei à rede resignado a no outro dia ter de procurar com que substituir meu jantar perdido. A experiência me ensinara que as formigas, ao descobrir um celeiro, costumam repetir as visitas, e, por isso, procurei acautelar-me tomando a precaução de, antes de me deitar, pôr umas cascas de laranjas perto da entrada de casa. À noite as formigas voltaram, como esperava, e se refestelaram com o meu presente. O ardil serviu-me e tive de repeti-lo. Mas, a gente se cansa de tudo, até de dar de comer às formigas. Ao quarto dia me esqueci da precaução e fui me deitar julgando estar livre da invasão. As formigas não seriam indiscretas a ponto de insistir mais diante da minha anterior generosidade. Ao despertar, percebi estarem roendo a palha do telhado; ouvi também outros ruídos pelo chão. “Pensei com meus botões; conheço esses rumores; são as formigas que, formando dois grupos, tesouram as folhas do teto enquanto outras, embaixo, carregam os despojos para os formigueiros. Roubar feijões e cascas de laranjas, vá lá! mas palhas!... Não compreendia a vantagem...” Riam comigo próprio da partida que pregara às formigas. Ah! O dia clareou... O que as formigas haviam roído, sobre minha cabeça, fora o panorama. Vi-o todo recortado, quase destruído. Cada tela parecia um desses brinquedos para ensinar geografia cujas peças recortadas nas bordas são destinadas a se inserirem umas nas outras formando um todo. A cabeça de Medusa estava diante de mim... tanto trabalho, tanto sofrimento para tal desfecho! Quedei-me por mais de uma hora a contemplar esses destroços, descrendo da realidade, e experimentando sincera dor. Se aquilo me acontecesse em Paris, por exemplo, teria apenas o incômodo de dar uns passeios de trem e depois de umas horas à sombra, tranqüilo, reconstituiria o panorama. Ali, porém, passei o dia a chorar como um menino, sem saber mesmo que fizesse. Mas, lágrimas não dariam remédio a nada; tratei de colar os fragmentos das telas uns nos outros e no dia seguinte votei-me ao suplício de restabelecer minha obra. Cinco dias foram necessários para reparar os danos das formigas. O destino devia-me algumas compensações. Tive de enfrentar, durante esses cinco dias, a visita de animais bem malévolos; vali-me da espingarda que não me saía de junto. E fui assim aumentando as coleções. De uma das vezes matei com a coronha da arma uma grande cobra que se aproximara bastante de mim. Afinal, o panorama ficara de novo concluído. E só Deus sabe minhas preocupações até vê-lo seco de todo. Ao menor ruído, despertava, punha-me em pé, alerta. Todavia, a força das vocações é tão poderosa que em meio desses transes idealizava um quarto panorama: o do rio Amazonas com as suas pororocas.
Empolgara-me a paixão do deserto. Ia trocar as grandes matas pelo grande rio, sempre com o ideal de realizar estudos interessantes.
Nos últimos dias que passei na floresta obtive um companheiro de caça, um índio, verdadeiro, “pernas de couro”, alto, magro, de uma admirável perícia. Trocando o arco pelo fuzil abatera num dia cinco porcos do mato através de uma dezena de léguas, entre caminhos tão cheios de obstáculos que por eles nesse mesmo tempo eu não teria percorrido um quilômetro. No dia seguinte me veio comunicar haver perdido seu facão dentro do mato, mas voltando até lá achara o objeto perdido, num sítio onde eu não distinguiria um boi a dez passos, de tal modo intricada era a vegetação. Contou-me, então, que o pai, melhor caçador do que ele próprio, quando perdia uma flecha, atirava outra na mesma direção e depois ia buscar as duas.
Afinal chegara o dia da minha partida. Ia deixar as grandes matas. No dia de Páscoa, um ano justo após minha despedida de Paris, voltei mais uma vez a esse lugar em que, malgrado certos desaponta-mentos e incômodos, de que tanto já falei, talvez mesmo de mais, vivera feliz; ia rever a casa abandonada, as laranjeiras cobertas de frutos e despojadas de folhas, dizer adeus ao caminho onde me abrigava do sol e passava os dias a caçar ou desenhar. Permaneci por longo tempo sentado num tronco de árvore, era meu canapé habitual. Ali não havia mosquitos. Muitas vezes cheguei a dormir sobre esse tronco, sonhando com o que constituía toda a minha existência. Nesses sonhos sempre pintava obras-primas. Bastava-me escolher entre os animais maravilhosos que se ofereciam ao cano de minha espingarda os que queria abater. Minhas re-feições eram esplêndidas. Comia sem recear indigestões bananas enormes, feijões do tamanho de nozes e o mais que quisesse. Ai de mim! Esses sonhos não me voltarão ao cérebro. Vou de novo para a cidade; vou me meter nos trajos civilizados, calçar meias e sapatos, pôr meu chapéu de ridículo formato ao invés do de abas largas usado no campo. Regresso com certa melancolia ao meu teto rústico e no outro dia tomo a canoa que desce o rio Sanguaçu tão rico de doces impressões para mim. Vi, depois, outros rios, outras margens, outras florestas impenetráveis, e, sempre como ao ir descendo este rio, curvei-me ao encanto cuja lembrança vive presente no meu espírito. Seja qual for minha disposição de alma, não me recordo dessa travessia sem profunda saudade. Durante esses seis meses de minha vida empreguei bem todos os minutos. A saúde, abalada pela demora no Rio, revigorou-se, mercê dos exercícios e das fadigas a que me impus. Obtive maior robustez e uma grande indiferença perante todos os perigos. As cobras que temera tanto já não me inquietavam, mesmo dentro do mato onde meus pés nus poderiam pisá-las a qualquer momento. E, no entanto, teria todas as razões para ter medo delas, pois vira mais de um índio morrer picado por essas serpentes. Matara dois porcos do mato; ouvira muitas vezes urros tremendos e desconhecidos perto de mim. Nada conseguira interromper o trabalho a que me devotara. Enfim eu estava retemperado, conforme predissera o general belga que despertara meu interesse pelo Brasil. No meu regresso, tornara a avistar os coqueirais debruçados sobre o rio e me curvara sob as árvores enfeitadas de parasitas. Outra vez os enormes caranguejos a fugirem de mim valendo-se das disformes patas. No alto, em agudos grasnidos, os gaviões brancos. E toda essa vegetação primitiva, pouco a pouco a desaparecer, a tomar fantásticas formas, imitando estranhos templos. Nas vizinhanças do mar, os mangues ressurgiram a nossas vistas. É preciso ver esses imensos mangues, cujas raízes desenham arcos, para se ter uma idéia da sua extensão, avançando pela água salgada, a perder de vista como uma extraordinária inundação.
Fez-se sem acidentes minha viagem de volta e alcancei Santa Cruz, onde consegui a chave de uma casinha para me instalar. Manuel viera comigo. Infelizmente teria de demorar um pouco, pois somente com vento favorável atingiria Vitória. Queria acompanhar minha bagagem e contratei uma canoa, pois não dispunha de cavalo para me transportar por terra. O canoeiro era um valente português chamado Domingos. Não seria isenta de riscos a travessia, porquanto o trajeto marítimo era de 30 léguas. Assentou-se embarcar primeiro a bagagem e logo que o tempo permitisse a partida eu teria aviso para ir também para bordo. Na hipótese de partir à noite deixaria a chave de minha casa pendurada à porta do vizinho. Mas o vento custou a se mostrar favorável, como da outra vez. Não encontrava distração em nada; a vida na floresta tirara-me o interesse para outros cenários. Os próprios assuntos para pintar eram banais; conhecia os arredores; restituíra minha famosa espingarda. Contudo, sendo a caça ainda uma ocupação capaz de me distrair um bocado, ali tomei emprestado um fuzil de dois canos. Ruim mesmo. Gastava vinte cartuchos para dar dois tiros, e isso por um cano apenas, porquanto o direito estava obstruído. Servia-me apenas do esquerdo.
Outrora subira por um caminho na montanha e lá me ensaiara como caçador. A vegetação, nessa época luxuriante, enchia de sombra toda a encosta até ao alto, de modo que podia, meio escondido, atirar para todos os lados sem que ninguém me perturbasse. Agora, porém, o aspecto era outro. As chuvas copiosas de dezembro e janeiro haviam causado grandes estragos; uma parte da colina abatera soterrando dezessete casinholas. Do antigo esplendor vegetal restavam troncos, folhas e galhos secos, escombros. Metade do caminhozinho meu conhecido resistira à avalanche, mas justamente o trecho que ficava acima do desmoronamento e portanto se tornava arriscadíssimo ir até lá, sem ponto de apoio e na iminência de cair de uma grande altura sobre destroços de toda ordem que, como de hábito no sul, ninguém pensava em retirar dali. Vi descerem por esse caminho alguns indivíduos que me faziam lembrar cenas de ópera-cômica, como as de Fra-Diavolo e outros bandidos célebres, envoltos em longos mantos. Eu preferia subir por outras veredas, mais seguras, embora com grandes rodeios e poupando-me do sol. Numa dessas excursões, tive saudades de meu lápis e parei para pintar qualquer coisa. Abriguei-me sob uma árvore. Mal principiara o meu esboço ouvi gritos que me pareceram de entusiasmo. Olhei. Era um bando de capotes que se aproximavam de mim e sem dúvida gritavam daquela maneira para me estimular ao trabalho. Apressei o esboço e mudei de lugar. A uns cem metros de distância julguei-me em sossego, fora do alcance de algum indiscreto amador. Desta vez surgiram bandos de periquitos a pousarem nos galhos de uma árvore. Largo o lápis e tomo a espingarda. Faço pontaria e vou atirar quando de novo atroam os ares com maior estridência ainda os gritos dos capotes. Fiquei tão danado que fiz fogo sobre eles. Por sorte o tiro falhou.
Já confessei não ter grande queda pela caça. Por isso, sem dúvida, não tornei a carregar a arma. Vali-me, porém, de algumas pedras e atirei-as a esmo contra as aves, dispersando-as e vingando-me dos aperreios que me proporcionaram com o seu berreiro causador da interrupção de meu trabalho e do fracasso do tiro aos periquitos.
Achava-me nesse momento em local descoberto, e afora raras árvores não se via senão ralos matos que se prolongavam até a entrada de uma floresta onde ainda não entrara. Tinha enriquecido minhas coleções um ervário composto de folhas que pelas suas formas me pareciam interessantes para levar comigo à Europa. E como nada tinha a fazer de melhor tomei a direção da mata de que falei há pouco. Desde que fora obrigado a demorar em Santa Cruz, adquirira o hábito de passear com as mãos para trás e levando minha espingarda como se fosse um cacete. Ia assim caminhando a esmo através das árvores, de cabeça baixa, procurando quaisquer plantas que valessem a pena ser colhidas, e sem me preocupar com os empecilhos armados pelos cipós. Não tinha pressa e não dispunha de faca para cortar esses cipós e abrir caminho; ao me ver metido nessa rede de lianas que à primeira vista parecem não ter força para prender um coelho e que no entanto possuem resistência de ferro, era obrigado a fazer um esforço de quem arrasta um carro para prosseguir na marcha. Muitas vezes tive de desistir de continuar o passeio por aquele caminho, confessando assim não ser o mais forte... Foi numa dessas lutas com os cipós que percebi certo ruído perto de mim e ergui a cabeça... Havia uma árvore cujos galhos tinham crescido muito baixo e para os lados de tal jeito que se enlaçaram vigorosamente às arvores vizinhas. Em cima dessa árvore, cuja copa espessa me oferecia sombra e era quase de minha altura, descobri estupefato três gatos do mato prestes a pularem em cima de mim. Não podia recuar nem fugir e não trazia minha faca; a espingarda estava descarregada no cano esquerdo e com o direito eu não podia contar por ser inútil. Além disso, mesmo que disparasse, seria com chumbo miúdo. Acrescia a dificuldade de mudar a posição da arma sem grande ruído. Essas reflexões passaram pelo meu cérebro com mais rapidez do que eu mesmo supunha. No entroncamento dos galhos, encontrava-se o maior e o menor dos animais. O terceiro aboletara-se num ramo mais alto. Afeito a derrubar papa-moscas em pleno vôo, só me restava uma decisão a tomar, e era a de apontar bem nos olhos um dos bichos, o mais próximo de mim. Nenhum dos três se mexeu talvez por enxergarem no meu rosto qualquer coisa de estranho. Fiz uma pontaria cuidada, e quando por um quase milagre o tiro partiu ouvi um rumor de folhas, sem poder ver nada: a fumaça não se dissipava logo sob aquela abóbada de verdura. Peguei a arma pelo cano, e fazendo dela uma clava dei uns passos à frente, procurando sair do círculo de fumo. E compreendi ter sido ótimo o tiro: os dois gatos monteses tinham sido atingidos. O maior, embora com os olhos vazados pelo chumbo, ergueu-se do chão, apoiando-se nas patas traseiras; dei-lhe uma pancada na cabeça, porém ele novamente se levantou e pôde se esconder por entre a vegetação. O menor, também cego, estava caído e miava dolorosamente. A custo consegui matá-lo. Fiquei ansioso por me ver longe dali, mas fui obrigado a demorar-me bem uma hora à procura dos pedaços da espingarda que eu quebrara com as pancadas dadas nos dois gatos do mato. Essa arma me fora emprestada e teria de restituí-la. Ficara-me nas mãos apenas o cano, e com ele teria de me defender se os animais me atacassem de novo. Finalmente pude me apanhar fora da floresta, levando, porém, uma das minhas vítimas amarradas pela cauda. Respirei à vontade cá fora. Alcançando a escapada vereda de que já falei, por ela mesma tomei, não obstante os perigos, porque não me agradava perder tempo em procurar outro trajeto menos arriscado.
Devo confessar que minha entrada triunfal na povoação, com o fuzil partido, a cara e a roupa sujas de sangue, o animal morto às costas, causou sensação. Cinqüenta índios de ambos os sexos me acompanhavam, revelando grande espanto. E a esse espanto se misturava certo terror. Viam em Santa Cruz pela primeira vez um gato do mato. Todos queriam ver o que eu matara. Ao chegar a casa tratei de tirar a pele do animal. Dei a carne aos vizinhos, que com ela prepararam um saboroso prato. Provei também dela, mas achei-a amargosa. Não me afizera bastante ainda à vida dos indígenas para achá-la gostosa. Mais tarde me pareceria excelente.
No outro dia voltei ao local da luta com outras pessoas. Demos uma batida rigorosa nos arredores sem encontrar rastro do outro animal ferido. E ficou nisso a aventura. Eu havia passado a noite inteira a sonhar com os olhos brilhantes e fixos do gato; acordei várias vezes assombrado. Poderia ter, acompanhado como estava, me metido mais de mata adentro, mas nem levava espingarda e não me seduzia outro encontro em situação pouco favorável.
Entrementes os dias corriam e o tempo não mudava. Quando me sentia cansado de caminhadas pela areia ardente e o calor me impunha a procura de um abrigo, recolhia-me ao casebre de um velho negro que não era escravo, o qual se encarregara de consertar a espingarda, embora demoradamente. Esse pobre homem exercia várias profissões; era muito vagaroso no trabalho e somente se animava quando fazia vibrar seus dois sinos. Porque o negro, além de serralheiro, era sacristão da catedral a que já aludi, sem prejuízo também de seu outro ofício – o de sapateiro remendão. Sendo livre, podia usar sapatos, e nunca vi outros do tamanho dos dele, aliás muito de conformidade com seus enormes pés.
Meu amigo negro, apesar de todas essas acumulações, ainda achava tempo para criar perus e patos. Ao ver sua criação lembrei-me logo de que durante a viagem a empreender, se os ventos contrários a tornassem mais longa do que o previsto, teria necessidade de víveres. Na minha bagagem conduzia ainda a famosa sopeira que já me prestara tão bons serviços e que novamente mos poderia proporcionar. Comprei do velho um dos seus patos, pagando-lhe mais de 10 francos. A dona da casa preparou muito bem a ave e me entregou pronta na noite de minha partida. Os ventos haviam afinal mudado. Coloquei em sítio seguro a sopeira e fui meter a chave de minha morada debaixo da porta indicada. E despedi-me de Santa Cruz.
Capítulo VII
Compunha-se a tripulação do nosso barco de um negro e dois índios, sem falar em Domingos. Partimos às 3 horas da manhã e fomos correndo sobre essa casca de noz com um tempo esplêndido. Ia Domingos ao leme entoando sem cessar cantigas edificantes, e tudo decorreu sem anormalidades até ao anoitecer, quando cessou o vento repentinamente, prenunciando uma tormenta ou uma calmaria, duas circunstâncias pouco tranqüilizadoras. Continuaram os cantos, o que não evitava um balanço que ora me atirava para um lado ora para outro. Todavia, consegui adormecer profundamente, mesmo porque precisava recompensar a quase vigília da noite anterior. E foi bom dormir, pois mais tarde o vento voltou a soprar, e pela manhã entrávamos no porto de Vi tória. Tornei a ver o homem do porta-voz, a fortaleza, e afinal a cidade. Lançou-se o ferro defronte da casa do dono da embarcação, e ao deixá-la penetramos num armazém repleto de objetos dos mais díspares: montes de louça de barro, pequenos mastros, rolos de cordas, etc., tudo numa confusão do outro mundo. Havia ao fundo uma escada de madeira que dava para os aposentos da família de Domingos, e lá em cima existiam vários quartos separados por tabiques e de paredes nuas. Por todos os lados, redes penduradas.
Apresentaram-me à dona da casa, que não demorou seu oferecimento de hospitalidade. Aceitei-a, embora preferindo me instalar no armazém. Para comer trazia o meu pato e ele me daria para aguardar a chegada de Mucuri, velho conhecido, o que se daria dentro de dois dias. Podia, portanto, dar-me ares de Lúculo, sem economizar alimentação. Mandei apenas comprar bananas e pão; ainda dispunha de um pouco de açúcar; deram-me uns limões e com eles preparei uma gostosa limonada, bebida de que nunca me esqueci, pois me curara de um começo de doença trazida do Rio. Com o auxílio de um jovem indígena, tipo risonho e amável, construí uma espécie de estrado, valendo-me de algumas tábuas existentes no armazém, e tudo me correu bem. A esse indiozinho, em gracejo, costumava dizer ir empalhá-lo como fazia com meus passarinhos; ele ria-se à vontade, o dia inteiro, com a minha ameaça e quase demonstrava esperanças de que ela se viesse a objetivar. Torcia-se de riso quando eu o agarrava pela roupa e fingia ir abrir-lhe a barriga com toda precaução para não estragar-lhe a plumagem... Abria tanto a boca, nas risadas, que eu tinha a impressão de que suas orelhas exerciam a função de evitar que os lábios distendidos dessem volta pela sua nuca. Era também um perito marinheiro, esse rapaz. Queria se encarregar de minhas encomendas e não me deixar nunca, mas o dono temia tanto quanto o próprio rapaz ser pegado para servir no Exército, como acontecia freqüentemente com os indígenas. Deste jeito ele não arredava pé da embarcação nem do armazém: virara meu cão de guarda. E assim se comportou durante todo o tempo de minha estada ali, que por sinal se prolongara por haver se atrasado na chegada o navio em que deveria embarcar.
Se nesse armazém em que me hospedara gozava de inteira liberdade, contudo não me pude poupar inteiramente a alguns aborrecimentos: os meninos de Domingos dormiam num aposento por cima do meu; as tábuas do soalho não eram bem calafetadas, e daí certas coisas desagradáveis que caíam lá do alto causavam transtornos... Procurei armar a rede num sítio menos exposto, convencendo-me do erro de tê-la antes pendurado bem embaixo das camas das crianças...
Fui visitar a família Penaud e desculpar-me de não ter aceito a hospedagem oferecida. Conhecera, já, como se sabe, de que natureza era a hospitalidade dos europeus e preferia a do armazém, não obstante certos episódios noturnos. Uma manhã, por exemplo, encontrei dentro do meu chapéu uma galinha acocorada e um ovo fresquinho. Pouco a pouco, entretanto, a família Penaud conseguiu desarmar minhas prevenções e tanto insistiram nas amabilidades que fui a sua casa jantar, caçar e passar as noites até que o vapor chegasse. Consegui matar, ali, dois interessantes macacos, de uns que têm a cara branca cercada por uma cabeleira preta como o azeviche.
Certa vez, ao entrar em casa, encontrei, sentados sobre tonéis, as três principais autoridades da terra: o juiz de direito, o capitão do porto e o subdelegado. Meu amigo José, como se chamava o caboclinho, mantinha-se respeitosamente de pé, ao fundo do armazém, após haver anunciado às visitas que eu não demoraria. Por mais que me lison-jeasse essa deferência das autoridades, senti-me também um pouco humilhado. Vinham me oferecer igualmente hospedagem; fui obrigado a recusá-la, mesmo porque partiria no dia seguinte.
Afinal, o navio chegou. O Sr. Penaud e seus filhos tiveram a gentileza de conduzir minha bagagem a bordo, e depois de terem-na acomodado bem iam se despedir, quando me pediram o passaporte. Eu o havia entregue à polícia ao chegar, e é de praxe a autoridade devolver esse documento ao seu dono no barco em que pretender regressar. Dera-se, porém, uma confusão qualquer, e o passaporte não fora encontrado a bordo; teria de desembarcar com a minha bagagem. Foi quando o Sr. Penaud correu a terra, foi à polícia, e de volta me trouxe não somente o papel como o funcionário negligente que quase se ajoelhava a meus pés, pedindo-me não o botasse a perder.
Reconheci na maior parte a tripulação do barco que me levava; o comandante, porém, era outro, um homem gordo, coxo, sempre amparado numa bengala, ao andar. Perguntei-lhe que fora feito dos quatro feridos do acidente de 4 de novembro. O capitão bateu de leve com a bengala na cabeça de um negro que ia passando perto de nós e puxou-o pela camisa:
– Vem cá, Moricaud.
Era exatamente o mais grave dos feridos, aquele cuja morte o médico prognosticara. Tinha a pele toda cheia de cicatrizes, de manchas brancas semelhantes às de vitiligem. Fiquei contente de tornar a ver esse pobre diabo, e ele para agradecer nossa atenção abria a boca num largo riso e mostrava duas fileiras de dentes pontudos como os das feras. Não negava sua origem africana.
Após três dias e meio de travessia, entrávamos nessa imensa baía do Rio, sobre a qual se chocam sempre as opiniões. Uns a dão como maravilhosa, outros como não possuindo nada de extraordinário. Penso ter alcançado as razões dessas divergências. Os primeiros transpuseram a Guanabara ao cair do sol; a temperatura é suave; os vários planos das montanhas tomam os mais empolgantes matizes; não há monotonia na paisagem; revela-se a natureza brasileira em sua máxima pompa. Os outros, deprimidos e irritados pelo calor, não sabem ver bem as coisas. Seus olhos injetados percebem o cenário de um modo fatigante; tudo lhes parece triste, monótono, de um tom violáceo a envolver as serras.
Esta sensação eu experimentava desta vez contrariamente à que se me proporcionara no dia em que pela primeira vez entrara nesta baía, ao amanhecer, depois de ter caído rápida chuva a refrescar o ar.
Veio ao nosso encontro um bote tripulado por negros a fim de receber os passageiros que desembarcavam antes do navio ir ancorar ao seu ponto de costume. Logo que saltei em terra, fui ao palácio, mas sem o intuito de ali me aboletar. Asseguraram-me: os cupins haviam atacado de tal modo o edifício que o iam em breve demolir. Pouca gente o habitava; os negros que me serviram de criados não mais se encontravam ali; assim, depois de ter deixado minhas malas no antigo aposento, procurei um hotel. Apoderara-se de mim intensa tristeza, nesse primeiro dia, e pus-me a passear a esmo pelo largo do palácio, comparando meus pensamentos de agora com os que me enchiam a cabeça durante os seis meses passados nesta mesma cidade. Não via mais a civilização pelo mesmo prisma olhado antigamente. Perdera no âmago das florestas todo meu entusiasmo por este país a que poderiam tornar tão florescente e que, nesse instante de injusta melancolia, deixara de possuir a meus olhos o encanto de outrora. No dia seguinte lia-se num jornal:
“Ontem, um indivíduo mal vestido passeava em silêncio com as mãos às costas. Usava uma longa barba, como um profeta, e parecia estar tramando qualquer plano sinistro. Os meninos, ao vê-lo, se afastavam medrosos. Alguns polícias seguiam com as vistas os movimentos desse tipo suspeito e estavam prontos a contê-lo se acaso ensaiasse qualquer gesto criminoso.”
E no dia subseqüente outra folha anunciava:
“A eminente personalidade a que aludiu ontem de modo tão desatencioso nosso confrade..., é o famoso artista francês Biard, que regressou há pouco de longa excursão pelas matas da província do Espírito Santo etc., etc.” Eu estava reabilitado.
Tratei logo de cortar a barba; um perito cabeleireiro francês penteou-me e frisou-me o bigode; comprei-lhe um preparado para afiar navalhas e procurei apagar do melhor modo a má impressão causada pela primeira notícia de jornal a que aludi. Pedi a meu compatriota para afiar as navalhas que durante a excursão pelo interior não me prestaram serviço, e ele não se negou a me atender. Achei se tratar de um trabalho tão insignificante que não merecia pagamento. Contudo perguntei-lhe por delicadeza quanto lhe devia, e ele me respondeu ser meu débito de 2$0, mais ou menos seis francos... Querendo guardar uma recordação desse episódio, solicitei-lhe uma conta que ainda hoje possuo. Mais tarde procurei utilizar-me do tal preparado para afiar as navalhas, mas a coisa não deu certo e abandonei-o. Ao regressar à França, fiquei sabendo que se tratava de cosmético para bigodes, e essa descoberta fez crescer minha estima por esse prestimoso patrício.
Vários assuntos me prenderam no Rio mais de um mês. Não encontrei, porém, mais, ali, nenhum motivo de distração: nem passeios que tentei fazer pela cidade nem estudos de costumes pelos seus arredores. Ansiava por partir, fosse para a Europa, fosse para uma excursão pelo Amazonas. Visitei sem interesse as ilhas do Governador e de São Domingos, esta última aliás numa moldura de escolhos muito pitorescos. Debalde tentava desenhar ou escrever. Entre notas e esboços apanhados nessa época pelas ruas do Rio, encontro um gordo burguês que usa sobre sua impecável roupa preta uma opa de seda verde, e estende numa das mãos aos transeuntes uma bolsa escancarada. Que faria esse homem, assim encostado à esquina da casa que ficava fronteira ao meu hotel? Soube-o de sua própria boca: tirava esmolas e dizia invariavelmente aos que por perto passavam:
“Para as almas do purgatório, por amor de Deus!”
Fonte: Dois anos no Brasil, Auguste François Biard, 1862
Compilação: Walter de Aguiar Filho, outubro/2016


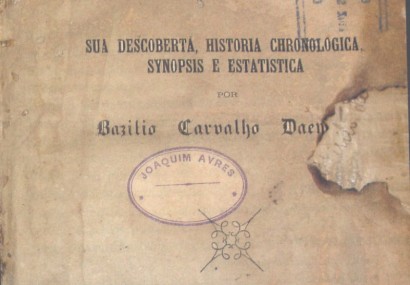

Tinham me falado, várias vezes, desde que chegara ao Brasil, de uma terrível cobra, a maior das trigonocéfalas, conhecida pelo nome de surucucu
Ver ArtigoVários assuntos me prenderam no Rio de Janeiro mais de um mês. Não encontrei, porém, mais, ali, nenhum motivo de distração: nem passeios que tentei fazer pela cidade nem estudos de costumes pelos seus arredores
Ver ArtigoEu estava em presença, pela primeira vez, de uma terrível surucucu, serpente venenosíssima
Ver ArtigoAuguste François Biard em seu livro DOIS ANOS NO BRASIL dedicou dois capítulos a Província do ES que estão aqui no site divididos em várias partes
Ver ArtigoOs que subiam os degraus exteriores para entrar na igreja tinham, do lado oposto, de descer outra escadaria, para entrar então no verdadeiro templo
Ver ArtigoAuguste François Biard em seu livro DOIS ANOS NO BRASIL dedicou dois capítulos a Província do ES que estão aqui no site divididos em várias partes
Ver Artigo