DOIS ANOS NO BRASIL – Por Auguste François Biard (Parte I)
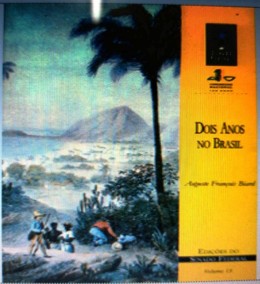 Capa do Livro: Dois anos no Brasil - Autor: Auguste François Biard
Capa do Livro: Dois anos no Brasil - Autor: Auguste François Biard
A viagem do Rio de Janeiro à Província do Espírito Santo
MUITAS VEZES indagara de franceses que já tinham estado no Brasil aonde se deveria ir para ver os índios e de nenhum recebera uma satisfatória resposta. Na opinião da maioria dessas pessoas, não existiam mais índios; a raça desaparecera; todavia, a meu ver, haveria ainda alguns em alguma parte. Eu queria encontrá-los fosse como fosse. Negros já eu vira muitos na África e até mesmo em Paris. Não me interessavam mais. Teimava era em conhecer os índios.
Afinal, um dia, soube que certo italiano vivia há oito anos no interior do Brasil e comprara terras na província do Espírito Santo para vender jacarandás; ele poderia me prestar informações seguras acerca dos selvagens. Em breve encontrá-lo-ia, pois estava sendo esperado no Rio, a negócios. Prometeram-me uma apresentação a esse europeu e trouxeram-no a meu ateliê justamente na ocasião em que trabalhava no retrato, em corpo inteiro, de encantadora e inteligente brasileira, a filha do Ministro dos Estrangeiros. A circunstância foi feliz, pois o italiano necessitava certamente de proteção, e, percebendo-o, procurei do melhor modo corresponder desde já à hospitalidade que ele me assegurara ter satisfação em me oferecer. Interessei-me o mais que pude pela sua pretensão e, se ele não obteve tudo o que desejava, não foi minha culpa.
Nem por tal poupou nenhum meio de me testemunhar sua gratidão. Eu não tinha, por tanto, se não por que confiar no seu auxílio para afastar quaisquer embaraços à minha excursão: tudo o que lhe pertencia era meu e poria à minha disposição sua casa e sua gente. Essa “sua gente” eram os índios. Eu estava radiante de alegria. Ficou decidido que penetraria as regiões mais agrestes sob a proteção do Sr. X.
Já nas vésperas de partir veio-me à cabeça uma idéia de fazer coisa de que não entendia patavina: ser fotógrafo. Comprei máquinas em segunda mão, drogas avariadas e um manual que leria na viagem. A 2 de novembro embarcamos no Mercury, navio que levava a reboque um vaporzinho destinado a subir o rio do mesmo nome. O mar estava grosso e ventava bastante. A embarcação rebocada retardava visivelmente nossa marcha. A maior parte dos passageiros se compunha de colonos alemães que iam engrossar o número dos seus compatriotas já instalados às margens do rio. Não era de grandes dimensões o navio em que viajávamos, e, por isso, muitos de nós dormíamos numas espécies de beliches armados no convés; eu ocupava um deles e como o balanço fosse forte preferia manter-me deitado durante o dia inteiro. Não era somente pelo jogo do barco que me conservava no beliche – sentia-me esgotado de trabalho e também em conseqüência da vida que levava, obrigado a me alimentar somente com frutas e conservas. Há tempos não dormia direito e todos me aconselhavam a deixar a cidade, mesmo por que ao chegar o inverno todos os que dispõem de recursos fogem da terrível febre amarela. Na terceira noite da viagem, o sono me fizera a agradável surpresa de voltar, e ia adormecendo quando fui despertado por violento estrondo; um enorme clarão, parecendo sair de dentro do mar, refletia-se sobre os mastros e as enxárcias de nosso navio, avermelhando-os.
Ouvimos gritos na embarcação a que estávamos ligados e a esses gritos seguiram-se gemidos. Depois tudo ficou no escuro. Foram arriados escaleres malgrado o risco de serem tragados pelas vagas encapeladas. Decorreram minutos sem se saber de que natureza fora o sinistro. Em regra os navios brasileiros são na maioria tripulados por negros e, por isso, as ordens dos oficiais não são cumpridas com a brevidade exigida. Um homem colocou-se perto das amarras com um machado na mão. Apesar da escuridão pude perceber um primeiro bote a se afastar; outro não conseguiu fazê-lo por ter sido repelido pelas ondas e ter corrido o risco de se arrebentar contra o costado.
Víamos, com terror, pequenas centelhas voarem de instante em instante sobre nosso navio e ouvíamos ao longe confusos rumores de angústia e de lamentos trazidos pelo vento. Vozes dolorosas misturavam-se ao estrépito das ondas perturbando-nos as almas. Afinal, entre duas vagas descobrimos um ponto móvel que ora surgia, ora se ocultava, e dali a pouco içavam para o nosso convés três corpos que não pareciam ter mais forma humana. Soubemos então que a caldeira do outro navio havia explodido quando os maquinistas, desejosos de nos auxiliar a marcha, haviam aumentado a pressão. Um incêndio principiou a se manifestar, mas a tripulação acudindo a tempo pudera dominá-lo. Os homens que nos trouxeram não estavam mortos como no primeiro instante supuséramos; enrolaram-nos em panos molhados de “cachaça”, aguardente de cana-de-açúcar. O ardor como que os chamou de novo à vida. Com grandes cuidados foram os três deitados em camas onde viajariam até tocarmos em Vitória; ali ficariam em tratamento. O médico de bordo tinha esperanças de salvar dois deles; quanto ao terceiro, um negro, era uma chaga viva da cabeça aos pés. Este mesmo não morreu; vi-o meses depois, tinha apenas a pele toda manchada como o couro de um tigre.
Fiquei, então, sabendo uma coisa que ignorava; as queimaduras nos pretos tornam-se esbranquiçadas.
Esse triste episódio nos fez perder muito tempo; a marcha do navio foi diminuída para que se prestassem os socorros e depois, ao prosseguir, levávamos um reboque ainda mais difícil de arrastar, pois já não nos podia ajudar com suas máquinas. Acresce a circunstância de termos sido obrigados a lançar ferro diante do porto de Vitória e ali esperarmos o amanhecer, pois nos arriscaríamos a bater de encontro aos rochedos da barra se tentássemos entrar à noite com o nosso fardo. Somente por volta das 8 horas da manhã pudemos fazê-lo e antes de alcançar o ancoradouro trocaram-se palavras com um senhor que viera até nós trepado num canhão e de porta-voz nas mãos. Passávamos de fronte à fortaleza e não sei se por ilusão de ótica a bandeira que ali se desfraldava me pareceu maior do que o próprio forte. Eu trouxera, por gentileza da Senhora de Barral, cartas de recomendação, por que, no Brasil, onde freqüente mente não se encontrava hospedarias, torna-se necessário valermos da hospitalidade, e ninguém a pratica tão nobremente como o brasileiro.
Não esperava ao saltar em Vitória encontrar com patriotas e, no entanto, deparei-me logo no cais com dois franceses que aguardavam a chegada do vapor; um deles me era já conhecido, pois jantáramos juntos certo dia no Rio; ao outro, porém, nunca vira. Atraiu-me logo sua fisionomia bastante simpática. O estimável Sr. Penaud, depois de ter experimentado vários meios de vencer na vida, resolvera explorar o comércio de padaria e obtivera resultados. O outro arrendara terras e ia colonizá-las.
Meu camarada italiano foi pela cidade procurar um hotel para mim. Existia um, sim, mas que hotel! Sobretudo, que cama! Preferi estender um colchão em cima de um bilhar e, não obstante o grande desapontamento de alguns jogadores habituais, tranquei um ferrolho que rivalizava em tamanho com a minha chave do Paço. Cansado da viagem tão desagradável e de emoções fáceis de avaliar, eu teria dormido como um bem-aventurado sobre o bilhar, mesmo sem cobertas, se não houvesse ouvido, mais ou menos às 8 horas da noite, grandes gritos, ou melhor, urros, que não pareciam ser de gente, o que me obrigou a pular do improvisado leito e me levou à janela de onde pude divisar uma multidão que se dirigia para os lados de um grande navio. Esses berros eram apenas um canto religioso entoado por negros que consideram esses habituais urros como se fossem orações.
No dia seguinte, o italiano que iria me hospedar nas suas terras, acompanhou-me pela cidade para entrega das cartas que trouxera. Fomos ao presidente da província, ao chefe de polícia e a algumas personalidades de importância. Facilmente percebi, com satisfação, que o Sr X. sabia tirar partido de tudo; isto me deu boa impressão dele. Essas cartas diziam-me particularmente respeito, e quando eram lidas ele me comunicava a tradução de alguns cumprimentos, oferecimentos de serviços, e, depois, sem transição e demoradamente, ele tratava de seus interesses com os destinatários das missivas, pedindo-lhes favores, explicando-lhes projetos maravilhosos que tinha na cabeça, no único fito de ser útil ao País. Tudo terminado, íamos embora, enquanto comigo mesmo eu indagava se o propósito da senhora Barral ao escrever tais cartas fora o de me ser útil ou o de proteger a um outro que delas se estava servindo jeitosamente.
Todavia, sou obrigado a reconhecer que graças a uma dessas missivas obtivemos cavalos para nosso transporte e um negro para trazer os animais quando deles não mais precisássemos. Era do nosso intento deixar as bagagens em Vitória e ao atingirmos Santa Cruz mandar buscá-las em canoas. E como não tivéssemos de partir logo fui dar uma volta pela cidade e seus arredores; foi, ali, que vi pela primeira vez um grupo de índios formando uma espécie de bairro. São bem numerosos esses indígenas: a sua habitação, sem que se possa chamar uma casa, não é contudo mais uma taba. Eles já tinham certos hábitos civilizados.
Entrei numa dessas habitações: em quase todas, mulheres faziam rendas de almofada e se via um periquito empoleirado num pau. Vi, também, alguns papagaios soltos.
No dia seguinte, os cavalos estavam à nossa porta; os portadores foram em busca das selas, o que demorou bastante, por quanto as ruas são ladeirosas e não se pode com facilidade galgá-las sem perigo de escorregar. Caminhamos à procura dessas selas, abaixo e acima, sem resultado; de uma casa nos mandavam a outra e nada! Ou víamos repetir inúmeras vezes esta frase desesperada: “Um cavalo sem sela!” E, como consolo, todos nos diziam (como se diz goddem na Inglaterra e dam na França): “Tenha paciência!” Esse contra tempo que nos atingia tornara-se quase uma calamidade pública; pessoas obsequiosas se esforçaram em nos ser gentis e em breve traziam-nos dois arreios completos, com ares de triunfo. E pudemos afinal partir em paz.
Fonte: Dois anos no Brasil, Auguste François Biard, 1862
Compilação: Walter de Aguiar Filho, outubro/2016


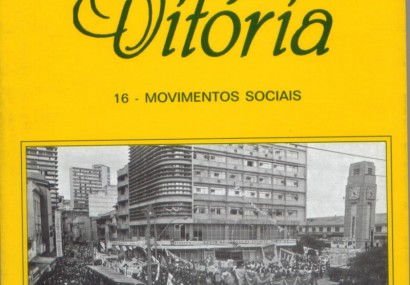

Tinham me falado, várias vezes, desde que chegara ao Brasil, de uma terrível cobra, a maior das trigonocéfalas, conhecida pelo nome de surucucu
Ver ArtigoVários assuntos me prenderam no Rio de Janeiro mais de um mês. Não encontrei, porém, mais, ali, nenhum motivo de distração: nem passeios que tentei fazer pela cidade nem estudos de costumes pelos seus arredores
Ver ArtigoImensos mangues, cujas raízes desenham arcos, avançando pela água salgada, a perder de vista como uma extraordinária inundação
Ver ArtigoEu estava em presença, pela primeira vez, de uma terrível surucucu, serpente venenosíssima
Ver ArtigoAuguste François Biard em seu livro DOIS ANOS NO BRASIL dedicou dois capítulos a Província do ES que estão aqui no site divididos em várias partes
Ver ArtigoOs que subiam os degraus exteriores para entrar na igreja tinham, do lado oposto, de descer outra escadaria, para entrar então no verdadeiro templo
Ver Artigo